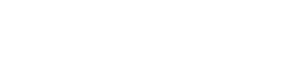Search results
8 records were found.
A presente investigação tem como objetivo avaliar a intensidade e os aspetos tático-técnicos do treino de futebol, procedendo à comparação entre os exercícios sob forma jogada versus exercícios convencionais específicos de preparação. A amostra foi constituída por doze (12) futebolistas do género masculino, com uma idade média de 25,0±2,79 anos. Os exercícios avaliados foram o Gr+2 vs 2+Gr; o Gr+4 vs 4+Gr e um exercício convencional específico de preparação (ECEP). A intensidade dos exercícios foi avaliada através da monitorização da FC (FCPICO e FCMÉD) e da perceção subjetiva de esforço (PSE). A análise dos aspetos tático-técnicos foi realizada com base nos indicadores utilizados por Garganta (1997) e Maçãs (1997). Os dados obtidos foram tratados através do programa S.P.S.S., versão 19.0. Recorreu-se, numa primeira fase à estatística descritiva Na análise inferencial, para a comparação da localização das variáveis estudadas recorremos ao teste de Wilcoxon para duas amostras emparelhadas. Adotou-se um nível de significância de p≤0,05. Como principais resultados verificamos que não existiram diferenças significativas entre o ECEP e o Gr+2 vs 2+Gr,
10
ABORDAGENS SOBRE O TREINO DESPORTIVO
não podendo dizer o mesmo entre os JR (jogos reduzidos) e entre o Gr+4 vs 4+Gr comparado com o ECEP. Quanto aos valores de PSE, não verificámos diferenças significativas entre o ECEP e o Gr+2 vs 2+Gr, não podendo dizer o mesmo na comparação entre os JR e entre o ECEP com o Gr+4 vs 4+Gr. Relativamente aos aspetos tático-técnicos, comparando entre os dois JR existiram diferenças estatisticamente significativas no número de remates, desarmes e tempo posse de bola. Ao analisarmos o ECEP existiu um maior número de passes, remates e tempo de posse de bola comparativamente aos JR. A ação tático-técnica de desarme não obteve qualquer valor, visto que não possuía a mesma no exercício, sendo esta uma desvantagem. Contudo, ocorreram diferenças estatisticamente significativas relativamente ao número de passes, remates, desarmes e tempo posse de bola. Utilizando uma metodologia com JR, esta apresenta algumas vantagens relativamente ao treino convencional, nomeadamente ao nível das ações tático-técnicas em que existe sempre a presença de um adversário, tornando o exercício mais próximo ao jogo real, com níveis de intensidade altos para manter ou melhorar a condição física.
O objetivo deste estudo foi verificar se existem diferenças no desenvolvimento das
habilidades motoras (globais e finas) comparando crianças que ainda eram amamentadas
por leite materno com as que já não eram ou nunca foram amamentadas. A amostra é de
153 crianças de ambos os sexos (18,22±2,98 meses), 58 ainda são amamentadas por leite
materno (17,59±1,92 meses) e 95 já não são amamentadas por leite materno ou nunca
foram (19,81±2,95 meses). As habilidades motoras foram avaliadas usando as escalas da
PDMS-2. Houve diferenças estatisticamente significantes nas habilidades de locomoção,
manipulação fina, integração visuo-motora e na Motricidade Fina. As crianças ainda
amamentadas apresentaram, em média, melhores resultados em todas as habilidades
motoras, com mais enfase nas habilidades motoras finas. Estes resultados mostram
que continuar a amamentar a criança com leite materno pode trazer benefícios, não só
nutricionais, imunológicos, psicológicos e sociais(1), mas também na competência motora.
O que reforça a sugestão da OMS da importância de continuar-se a implementar medidas
que promovam um maior sucesso do aleitamento materno(1), nomeadamente na duração da
amamentação após os 6 meses de idade(2).
O objetivo deste estudo foi verificar se existem diferenças no desenvolvimento das habilidades motoras (global e fina) comparando crianças que foram ou não amamentadas por leite materno. A amostra é de 204 crianças de ambos os sexos (33,22 ± 5,98 meses), 106 amamentadas por leite materno (33,59 ± 4,92 meses) e 98 não amamentadas por leite materno (32,81 ± 6,95 meses). As habilidades motoras foram avaliadas usando as escalas da PDMS-2. Para a análise estatística, foi utilizado o teste de Kolmogorov- Smirnov para testar a normalidade, o teste de Mann-Whitney para amostras independentes. Houve diferenças estatisticamente significantes nas habilidades de locomoção (p = 0,012), manipulação de objetos (p = 0,042), manipulação fina (p = 0,000), integração visuo-motora (p = 0,000) e na Motricidade Global (p = 0,026). As crianças amamentadas apresentaram, em média, melhores resultados nas habilidades motoras globais e as que não foram amamentadas por leite materno nas habilidades motoras finas. Estes resultados mostram que o leite materno, devido aos seus benefícios nutricionais, imunológicos, psicológicos e sociais, torna a criança mais "forte" a nível motor global (correr, saltar, lançar, pontapear), já as sem leite materno apresentaram melhores resultados nas habilidades motoras finas, provavelmente pela necessidade inicial que estes têm na manipulação inicial dos movimentos finos ao manusear a biberão.
O presente estudo sobre o desenvolvimento Motor da criança nos primeiros meses de vida, teve como objetivo
verificar a relação entre as Habilidades Motoras e a Idade, e a relação entre as habilidades motoras Globais e Finas em crianças dos 12 aos 46 meses. Para o efeito, desenvolvemos um estudo de natureza quantitativa, com uma amostra de 405 crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 46 meses, de ambos os géneros. Os instrumentos usados no estudo foram as Peabody Developmental Motor Scales-2 (PDMS-2). Em termos globais os resultados indicam que existe uma tendência para correlações positivas (maioritariamente moderadas e baixas) entre as variáveis Idade, Habilidades Motoras Globais e Habilidades Motoras Finas, salientando a correlação positiva moderada (p≤0.05; r2=0.265; 0.5≤ r ≤0.7) entre a Idade e a Motricidade Fina e por sua vez uma correlação positiva pequena (p≤0.05; r2=0.217; 0.1≤ r ≤ 0.3) entre a Idade e a Motricidade Global. Podemos assim contatar, uma melhoria destas habilidades à medida que as crianças vão crescendo, salientando melhores resultados na Motricidade Fina.
Functional Movement Screen® (FMS®) allows to assess athlete’s movement functionality. Movement funcionality in young elite and non-elite swimmers may predict future performance. The purpose of this study is to compare FMS® scores between young elite and non-elite swimmers, and to verify their relationship with 100m freestyle performance. Thirty-two elite swimmers (age: 14.99 ± 0.13 years old; height: 1.71 ± 0.02 m; body mass: 61.28 ± 1.27 kg; Fédération Internationale de Natation [FINA] points: 651.59 ± 6.44) and 17 non-elite swimmers (age: 14.65 ± 0.19 years old; height: 165.12 ± 2.03 cm; body mass: 57.22 ± 2.43 kg; FINA points: 405.71 ± 21.41) volunteered to participate in this cross-sectional study. Individual-test FMS® scores, FMS® composite score and FINA points were considered for analysis. Elite swimmers achieved higher Deep Squat (p = 0.005; ES = 0.99), Right Hurdle Step (p = 0.005; ES = 0.99), Left Hurdle Step (p = 0.002; ES = 1.08), Trunk Stability Push Up (p < 0.001; ES = 1.44) and FMS® composite (p < 0.001; ES = 1.35) scores compared to non-elite swimmers. FMS® composite scores were positively related with 100m freestyle performance (r = 0.596, r2 = 40.9%, p < 0.001). Young non-elite swimmers reveal functional deficits in tasks involving mobility of the hips, knees and ankles, and stabilization of the core and spine. Higher movement functionality is positively related with 100m freestyle performance. Swimming coaches should consider these deficits and their relationship with performance to differentiate exercise prescription between this populations.
Since coaches play an important role in the development of athletes, the process and mechanisms used by Special Olympics Portugal to develop coaches’ skills are worthy of research. In this context, the study aims to identify the training paths and profiles of the Special Olympics Portugal coach. It also aims to analyze the relationship between formal and non-formal learning in the profile and training of this type of coach. The research is descriptive and transversal regarding Special Olympics Portugal coaches, with the participation of 50 subjects. Two questionnaires were used, the Coaches’ Training Profile Questionnaire to determine the training routes, and the Coaches’ Orientation Questionnaire. The results show that the Special Olympics Portugal coaches have an academic background and a somewhat critical profile. It is imperative to build formal and non-formal learning contexts that focus on the theme of adapted sports, in order to allow the training of more qualified coaches, who are consequently more effective in their interventions with this type of athlete.
The purpose of this study was to examine the psychometric properties of Peabody
Developmental Motor Scales II (PDMS-2-Folio and Fewell, 2000) using a Portuguese sample. The validation of the Portuguese version of the PDMS-2 was applied according to the manual, for 392 children, from two institutions, from 12 to 48 months, with an analysis of the internal consistency (α Cronbach), of test–retest reliability (ICC) and construct validity (confirmatory factor analysis).
The results of the confirmatory factorial analysis (χ2 = 55.614; df = 4; p = 0.06; χ2/df =13.904; SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) = 0.065; CFI (Comparative Fit Index) = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0.068) of two factors (Gross Motor and Fine Motor) as the original version but correlated. Most of the subtests had good internal consistency (α = 0.85) and good test–retest stability (ICC = 0.98 to 0.99). The results indicated that the Portuguese version of the PDMS-2 is adequate and valid for assessing global and fine motor skills in children aged 12 to 48 months, and can be used as a reference tool by health and education professionals to assess motor skills and, thus, allowing to detect maladjustments, deficiencies or precocity, so that children can later receive appropriate intervention.
Objective: The aim of the present study was to validate the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale in Exercise for fitness instructors. Methods: Data from 477 exercise professionals (319 males, 158 females) was collected. Results: CFA supported the adapted and validated six-factor model: [χ2(237) = 1096.796, χ2/df= 4.63; B-S p < .001, CFI = .930, TLI = .918, SRMR= .0366, RMSEA = .079 (CI90% = .069, .089)], assessing satisfaction and frustration of basic psychological needs in Portuguese exercise professionals. Moreover, the analysis revealed acceptable composite reliability, and construct validity of the adapted version. Results revealed nomological validity, as well as invariance between male and female. No differences were found across latent means, and magnitude effects were trivial between gender. Conclusion: These results support the use of the adapted scale in exercise professionals, showing measurement invariance between gender. This scale is able to measure how exercise professionals experience satisfaction and frustration of basic needs when prescribing exercise to individuals in fitness context.