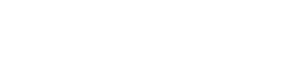Search results
291 records were found.
As políticas educacionais do Estado Novo em Portugal tiveram diversos efeitos, segundo o autor, nos vários sectores do ensino, por exemplo, as Escolas do Magistério, de formação de professores primários, foram encerradas em 1936 (reabertas em 1942) alegando-se que um programa de formação de professores centrado em “objectivos pedagógicos” era uma perda de tempo, dinheiro e inteligência. É bem demonstrativo o fato dos currículos dos Magistérios terem sido aprovados em 1943 (Decreto Lei nº 52629), o que no dizer de Filomena Mónica (1978) “a escola salazarista pretendia modelar as crianças em vez de educá-las”. Com o afastamento de Salazar do governo (1968) e a nomeação de Marcelo Caetano como seu substituto, surge em 1973, uma reforma educativa, algo inovadora na época, designada por “Reforma de Veiga Simão”. Discutir com profundidade teórica esta Reforma no período Marcelista Português é o objectivo do autor.
O quadro dos serviços que mais directamente interessam a um país estão, indubitavelmente, o da protecção e prevenção do Estado à infância desvalida, marginalizada e delinquente, através de instituições e serviços oficiais que exerçam uma eficaz e constante vigilância em ordem a impedir a propagação de desvios e comportamentos anti-sociais. Em geral, segundo o autor, esses serviços envolvem toda uma obra de administração, incidindo nos fundamentos mesmos da sociedade e constituindo um âmbito importante da assistência pública. Para Martins a preservação das crianças contra os perigos morais e delitivos desdobrou-se no âmbito do direito penal (jurídico-penal), pelo problema da responsabilidade dos menores (discernimento) e ao âmbito da assistência social e educativa de corrigir e educar esses menores. Esses serviços aos menores e, também, aos adultos, só na 1ª República (1910-1926) logrou ter uma organização adequada à imediata e necessária intervenção (preventiva e correccional) que ao Estado incumbe, que desde os séculos XV e XVI esteve confiado a instituições de índole particular ou religiosa e a movimentos filantrópicos, que criaram instituições ou associações para assistir, amparar, acolher e educar muitos colectivos desprotegidos socialmente, destacando-se a infância desvalida e vadia. Este esforço foi acompanhado pela difusão do ensino popular com a abertura de aulas e escolas nocturnas para aprendizes e trabalhadores. Segundo Ernesto ao nível historiográfico os anuários das câmaras municipais, as memórias de higienistas, médicos (pediatras, psiquiatras), os boletins de associações assistenciais, profilaxia e de puericultura, aos dados demográficos, às publicações de pedagogia e outras obras de relevância médico-pedagógica e, ainda, a própria imprensa, insistem nas problemáticas sociais que implicava o processo de urbanização (concentrado nos centro urbanos) e de industrialização. Os efeitos sociais desses fenómenos, associado à imoralidade, à promiscuidade, miséria, actos delitivos e aumento de desviações sociais na infância, são vistos como situações de insegurança (económica, política, social) que obrigou ao trabalho e exploração infantil e juvenil e a consequente marginalização social e delinquência.
Estamos numa sociedade que avança a traços largos para o conhecimento, a aprendizagem pelas imagens, para as novas tecnologias e para uma nova forma de comunicação e de relações (sociais). Neste contexto a ‘informação’ é uma finalidade.
Será que as instituições de ensino superior se adaptam a este novo contexto? Conservamos a cultura e criticamos a sociedade?
A universidade vem desde o séc. XII e progressivamente se colocou mais a favor da ‘razão’ do que do dogma, mais a favor do saber (es) científico (s) (conhecimento empírico) do que do saber vulgar, mais a favor da liberdade do que da exclusão e dos estigmas sociais. Esta tendência democrática, que se gerou no ambiente universitário é uma das suas características fundamentais, tendo promovido, em algumas épocas, situações, movimentos de contra-corrente, conflitos, etc. O âmbito das instituições superiores é supra-nacional, retendo o passado, mas projectando o futuro, de tal modo que muitas vezes criticamos o seu conservadorismo ao nível estrutural e burocrático, incluindo o de pensamento.
A responsabilidade actual das instituições de ensino superior é tripla. Uma responsabilidade regional, nacional e internacional, que pressupõe políticas (sociais, democráticas e culturais) de interesse para a educação ao longo da vida. Vários estudos apontam para que as universidades e as instituições de ensino superior sigam políticas adequadas aos problemas políticos, financeiros e de organização que atravessam (James Duderstadt, W. G. Bower, H. T. Shapiro, R. Levin, Derek Bok). De facto, assistimos a relações polémicas ou difíceis entre aquelas instituições de ensino superior e o poder político.
Pretendemos apontar alguns cenários que emergem dessa relação, por vezes conflituosa, entre as universidades e a política, principalmente ao nível organizacional (estrutura das instituições), das funções (objectivos multidimensionais), do financiamento, da limitação dos recursos (isomorfismo)), da gestão, da avaliação dos resultados e da qualidade de ensino.
O actuar do P.e Américo na ‘rua’ foi um exercício concreto, real e simples. Ele agia, intervinha e educava voluntariamente na rua e desde a rua, constituindo esta o ambiente que causava nos rapazes comportamentos anti-sociais e delitivos. Daí que criou nas Casas do Gaiato um ambiente natural, em família e em autogoverno, como catalisador para conseguir os fins da própria Obra da Rua: fazer de cada rapaz um homem. A sua intervenção é mais local, no sentido que as suas acções são concretas, quer em ambientes ou espaços sociais específicos, quer dirigida a sujeitos determinados (rapazes da rua), o que converte a sua pedagogia num sentido humanista, ambientalista, moralizadora e personalista. Todas as suas acções realizavam-se metodologicamente sobre o processo educativo dos rapazes através de um período de aproximação, de confiança, de consolidação utilizando o trabalho e, por último, o da personalização formação pessoal e social).
Efectivamente o educador de rua intervém social e comunitariamente, de modo global, criando as condições necessárias para prevenir as inadaptações em coordenação com os recursos materiais e educativos que dispunha. As estratégias de acção (educativas, psicopedagógicas, terapêuticas, actividades ocupacionais e de tempo livre) que realiza são sobre o indivíduo e/ou o grupo e a família, na escola, a nível local (bairro) e no âmbito profissional (acompanhamento, aconselhamento).
Trataremos nesta nossa abordagem do que entendemos por ’educador de rua’ ou de educador social e, especialmente a acção sócio-educativa do P.e Américo em prol da infância vadia, pobre e abandonada exercendo a sua intervenção em ‘meio aberto’ (a rua) das cidades de Coimbra, Porto e Lisboa.
O tema da educação para a cidadania é uma preocupação actual de todas as sociedades democráticas, das instituições escolares e das famílias. A cidadania, sendo um estatuto político, cívico e de prática social, constitui o que melhor ilustra o suporte ético do mundo actual. O autor aborda em três pontos o papel dos espaços escolares como geradores de uma cultura para a cidadania. No primeiro ponto abordar as questões conceptuais relacionadas com o conceito de ‘cidadania’ e da formação do cidadão, para num segundo ponto aprofundar o papel da escola na educação para a cidadania activa. No ponto seguinte defende a ideia de que a escola, com os seus espaços educativos, promove uma cultura comunitária que implica a construção da ‘cidadania’ como uma tarefa educativa, que envolve toda a comunidade, por razões de identidade e vínculo social do indivíduo.
O autor define a educação intercultural na actual diversidade cultural e linguística europeia. Além disso aborda os princípios de uma pedagogia intercultural, considerando este tipo de pedagogia integrada nas chamadas “pedagogias de baixa densidade”, que são as que promovem situações de “encontro”, de relações interpessoais, de comunicação e de convivência entre as pessoas. A educação intercultural integra-se no tipo de educação não formal e informal.
Poucas são as investigações sobre questões relacionadas com a história da infância desvalida, delinquente, inadaptada, desamparada ou abandonada em Portugal, na perspectiva educativa ou sócio-pedagógica. Até agora os historiadores da educação não tiveram demasiado interesse por este colectivo marginalizado da sociedade. O nosso estudo insere-se na perspectiva histórico-educativa abordando, desde os finais do século XIX e durante a 1ª República Portuguesa (1910-1926), a criança em circunstâncias de abandono, de delinquência e de marginalidade por parte da família ou tutores e da própria sociedade.
O estudo, de âmbito teórico e no contexto português, aponta para a importância das relações entre a escola, a comunidade e a autarquia (parcerias e partenariado), como vetor do desenvolvimento e da inovação. Para isso, deve-se partir da construção real de práticas de cooperação entre as comunidades locais e as instituições sociais e educativas, numa partilha de iniciativas e de projetos comuns com a escola (projeto educativo). A constituição
de comunidades territoriais de educação é uma forma de desenvolver os valores e manter as tradições, o património ambiental, cultural e artístico, a promoção dos recursos e das sinergias, com o objetivo de um desenvolvimento em rede, de uma cidadania europeia e para o intercâmbio de proximidade. O autor estruturou o estudo em quatro pontos. No primeiro aborda as parcerias entre a escola e a comunidade local, destacando o signifi cado de parceria e o papel do partenariado na realidade educativa portuguesa. No segundo ponto explica-se a relação interativa entre parceria, participação e poder local. No terceiro ponto analisam se as lógicas e as dinâmicas de parceria “educação – escola” e, no último ponto a parceria “escola – autarquia”, de modo a promover a participação dos atores educativos, da escola e da comunidade.
As transformações educativas operadas com o acesso às novas tecnologias e à sociedade do conhecimento obrigaram a escola a ministrar um ensino de maior qualidade. A inclusão de todos os alunos num aprender a aprender proporciona um melhor acesso aos recursos e ferramentas tecnológicas, evitando alguns desequilíbrios na aprendizagem. A escola com os seus currículos multirreferenciais e projectos deverá formar profissionais com uma formação especializada adaptada às exigências do mercado de trabalho. O autor analisa no contexto da sociedade da informação os impactos das novas tecnologias na educação, as mudanças exigidas na escola e nas salas de aula e maiores competências nos professores para esse desempenho.
A preocupação pelo intercultural insere-se no contexto dos direitos humanos, do pluralismo cultural, do reconhecimento da identidade e dos valores. A educação intercultural implica uma mudança na concepção curricular e no modelo organizacional da escola de modo a formar o futuro cidadão para a igualdade, a tolerância, a participação e o respeito mútuo. Esta educação constitui uma alternativa para garantir os direitos a ser diferente, possibilitando o respeito pelas minorias e a comunicação entre as culturas dum determinado contexto. O autor aborda estas questões da interculturalidade, diversidade com implicação na cidadania europeia.
O autor pretende reflectir sobre dois pontos básicos no contexto da modernidade e pós-modernidade: a ética do dever ou da certeza absoluta e a ética do pós-dever ou da ‘incerteza moral’ (pós-moralidade). Primeiramente abordará o conceito da ‘pós-modernidade’ no campo filosófico e ético, apoiando-se no cenário da sociedade global e do conhecimento, que leva o homem a ser pós-moderno sem o saber e a viver mais nas incertezas (relativismo ético), que nas ‘certezas absolutas’ da modernidade. Em seguida analisa alguns argumentos da ética da pós-modernidade, que é um efeito da filosofia pós-moderna, destacando a posição de Lipovestky ao recorrer a éticas inteligentes e aplicadas (ética indolor), que foi motivo de críticas de L. Ferry que se apoia no ‘sacrifício’ e de Z. Bauman que recorre à ética da responsabilidade contra o individualismo. Termina por propor uma reorganização axiológica na aurora do novo milénio, revalorizando o homem e o seu ‘estar no mundo’.
A preocupação nas sociedades democráticas com a educação cívica e educação para a cidadania insere-se no contexto dos direitos humanos, da responsabilidade e participação nas actividades comunitárias, da tolerância pela diversidade no pluralismo cultural, do reconhecimento da identidade e dos valores humanos. As interpretações da cidadania democrática integram-se num contínuo de concepções que se reflectem na própria democracia. O autor analisa e reflecte sobre quatro pontos essenciais para a educação do cidadão europeu. Interroga-se acerca do que é ‘ser cidadão’, numa perspectiva histórica, de como a cidadania constitui uma aprendizagem moral e cívica do indivíduo, do papel da escola na formação pela convivência, base fundamental da participação cidadã na comunidade e, ainda, propõe algumas notas orientadoras para a elaboração de um programa de formação para a cidadania no âmbito do Projecto Educativo de Escola.
Os historiadores da educação não têm dado o devido relevo ao estudo sobre o modo como viveram os menores considerados ‘marginais’, abandonados, desamparados ou delinquentes, em cada tempo histórico e o que lhes sucedia em situação de reclusão. Podemos conhecer essas realidades humanas, deduzindo dos dados documentais (âmbitos legalista, jurídico, sociológico, médico-psiquiátrico e pedagógico), já que os contemporâneos integravam muitas dessas problemáticas dentro do conjunto de adversidades derivadas da transição da sociedade às estruturas económicas e demográficas modernas, justificando assim muitas daquelas circunstâncias de criminalidade, de desvio e marginalização social.
Até finais do século XIX, é-nos difícil seguir a infância e a juventude que não vivia dentro do marco social normal, porque não constituía uma preocupação jurídico-social e socioeducativa de ‘ordem’, pois o número de delitos e os problemas sociais que provocavam essas crianças/jovens eram escassos. Na verdade, havia menores em situação de desvio social, de criminalidade, mas a mentalidade colectiva, as instituições penais e institucionais não os separavam (tipificação) dos adultos, permitindo a confusão com esse mundo dos ilegais, dos reincidentes, dos vagabundos promíscuos. Apesar do discurso oficial e da legislação avulsa, os resultados práticos eram efémeros não só para a infância desvalida, como para a classificada jurídico-penal por delinquente, indisciplinada e ‘em perigo moral’, que era internada nas casas de correcção.
No início do século XX promulga-se o direito tutelar de menores (1911), com medidas educativas, tutelares e de tratamento médico-pedagógico em internato ou semi-internato, que fez atenuar os índices de criminalidade infantil e juvenil e a reeducação daqueles menores.
A escola constitui um objecto historiográfico, em que a conceptualização do sistema educativo, a escolaridade e a administração escolar correspondem a uma evolução de perspectivas pedagógicas, discursos e políticas educativas. O estado deixou a escola, no séc. XIX, à incumbência dos municípios e, no século passado, centralizou o seu poder de manutenção económica e educativa. O autor destaca três questões nessa evolução da escola pública: a dimensão legislativa/normativa, as problemáticas pedagógicas em cada época histórica e, ainda, os condicionalismos gerais e específicos da organização escolar, da formação dos professores e da rede escolar. A teoria da educação sempre se aproximou mais à realidade educativa que o ordenamento da política educativa (legislação). O presente estudo pretende fazer um balanço historiográfico da escola pública portuguesa, entre os séculos XIX e XX (instrução primária, escolaridade). Na verdade os processos de investigação histórico-educativa são multidimensionais e complexos, numa base interdisciplinar; os historiadores procuram compreender, analisar e interpretar a realidade educativa e as instituições escolares, na sua organização evolutiva.
Pensamos ser de algum interesse actual para os que nos dedicamos no ensino da Filosofia da Educação, formular algumas questões prévias, as quais pretendemos reflectir ao longo do texto, para entender o próprio conceito e o seu enquadramento nas Ciências do saber e principalmente das Ciências da Educação. Por exemplo, referimo-nos aos objectivos do nosso estudo:
O que é a Filosofia da Educação? Quais as características que a distinguem de outros tipos de filosofias (p. ex., a Filosofia do Direito, Filosofia das Artes, Filosofia da História, Filosofia das Ciências, etc.)?
Necessita a educação de uma reflexão filosófica?
Será aberrante recorrer a conceitos mais ou menos abstractos da filosofia para tratar os problemas modernos da prática educativa? O que é que fornece a Filosofia, em especial a Filosofia da Educação, à prática educativa?
Que limites existem, se os há, entre a Filosofia da Educação e a Teoria da Educação? Que função compete à Filosofia da Educação no contexto das Ciências da Educação? Que âmbitos educativos (formação dos professores) são prioritários dentro da actividade da Filosofia da Educação?
Evidentemente estas questões apresentam-se como os objectivos desta reflexão, coincidindo tantas vezes nas próprias interrogações que fazemos no desejo de indagar e de afrontar a realidade educativa. Contudo esta abordagem, por razões compreensivas de complexidade e tempo será feita superficialmente.
Aceitamos a Filosofia da Educação como racionalidade prática, considerando-a como uma estratégia racional que guia as nossas acções/processos educativos.
Actualmente há um grande repto na mudança do paradigma cultural e das actividades culturais nas nossas cidades, comunidades ou ‘territórios’ populacionais, de modo a desenvolver-se o ideal da ‘cidade cultural’, na qual a juventude tem vários contributos a dar. As políticas educativas e culturais terão que conceber a ‘cidade’ ou a ‘comunidade’ com espaços culturais, desportivos e socio-educativos, em que as crianças e os jovens sejam protagonistas e os utentes desses espaços, convivendo com os adultos (filosofia do encontro e das relações), tornando acessível a convergência da ‘cidade educativa’ e da ‘cidade cultural’. O autor aborda algumas questões da cultura juvenil urbana, em que os municípios e as escolas têm uma responsabilidade acrescida nessa formação dos jovens.
O autor analisa no âmbito da descentralização e territorialização educativa, os princípios de estruturação e da autonomia dos centros escolares portugueses. A escola é uma unidade organizacional sistémica dentro do sistema educativo, constituindo-se numa organização de serviços de interesse público que exige responsabilidade aos actores sociais. No texto destaca-se a importância das parcerias na política educativa local e a relação «escola – comunidade educativa». A intervenção do poder local na educação processa-se numa perspectiva instrumental orientada para o desenvolvimento e a coesão social. Os municípios são os responsáveis pelo ensino básico português e os professores valorizam positivamente esta relação da escola com o poder local, pois possibilita a promoção da qualidade da educação. Com esta relação entre escola e poder local promove-se uma interacção participativa, com uma gestão democrática escolar, com dinâmicas educativas a nível local, lógicas, de acção e racionalização.
Este artigo pretende reflectir sobre as tendências educativas no cenário escolar actual. O autor interroga-se sobre a existência dessas tendências e/ou movimentos pedagógicos e do seu significado, intentando responder à pergunta; para onde caminha a educação/formação? Este questionamento leva-o a analisar as repercussões pedagógicas nos novos tempos e nos diversos espaços educativos. A emergência das tendências educativas intercepta-se com o novo sujeito histórico-pedagógico em três vectores: o primeiro vector constitui a conexão dos professores dinâmicos e preocupados com as necessidades e problemáticas das novas gerações, o que supõe a recuperação e o debate dialógico das ‘velhas e novas ideias’ e das propostas educativas; o segundo vector refere-se aos discursos e à sensibilidade pelo educar, pelo ensino, pela formação ou pela aprendizagem, isto é, pelas mudanças, contributos e investigações; e o último vector abrange a inovação e o desenvolvimento, a renovação dos movimentos pedagógicos, com expressões organizativas que geram debates à volta das alternativas democráticas do ensino, da missão e função social da escola, da gestão curricular
e dos conteúdos pedagógicos, modos de ensinar e aprender nos novos públicos e novas profissões, novos cenários de aprendizagem, novos saberes e culturas, etc.
Os modelos de avaliação (‘accountability’ – prestação de contas, ‘assessment’, ‘appraisal’, ‘self-evaluation’) conjugam no seu processo de aplicação alguns elementos relacionados com o contexto, com o ambiente cultural, com os procedimentos e resultados. Avaliar as universidades implica conhecer a sua natureza e configuração, a sua funcionalidade e especialização, enquanto instituições de ensino superior, enraizadas numa determinada região ou país. O autor pretende neste artigo, por um lado, analisar o cenário das experiências de avaliação e de (auto) análise institucional nas universidades (cenário na Europa) e, por outro lado, reflectir sobre a implementação da avaliação institucional, da aprendizagem organizacional e da relação entre estes dois conceitos, já que constitui ambos uma variável determinante para a gestão das universidades e/ou instituições de ensino.
Apresentamos nossa visão de entendimento da globalização, a qual constitui uma fonte de oportunidades. Nessa abordagem propomos os seguintes objectivos: a ideia comum de globalização, concretizando os ganhos nas actividades locais (regulação e localização); as propostas de Castells sobre o novo papel do Estado (eficácia); a segurança ambiental; a crise da identidade social e pessoal e, ainda, o conserva-dorismo optimista de Porter sobre a cooperação e competição; a realidade das exclusões resultante da sociedade global e a cultura da transformação na sociedade da informação.
Nos últimos anos o fluxo e refluxo de propostas de soluções, de reajustamentos e de renovações pedagógicas, têm mantido a indefinição sobre a necessidade de uma profunda estruturação do sistema educativo português. Exige-se uma política da educação que garanta as medidas educativas de alteração ou de redefinição do sistema, acompanhadas com uma melhor qualificação formativa e uma melhor utilização de recursos que as possam sustentar. O autor reflecte sobre dois pontos essenciais: o primeiro relacionado com a análise ao descontentamento da evolução organizacional do sistema de ensino e, em particular, com as problemáticas referentes ao ensino superior: o segundo ponto será uma reflexão sobre a Lei de Bases, aprofundando alguns aspectos que nos merecem atenção entre a Proposta do Governo e as propostas dos partidos maioritários da oposição.
A sociedade (pós-moderna) exige mudanças educativas compatíveis com novas necessidades humanas. O autor examina alguns aspectos relativos à educação cívica relacionando-a com os direitos humanos e a educação para a cidadania, destacando o papel da autonomia e da participação responsável dos cidadãos na vida social. Cabe à escola um papel importante na formação dos futuros cidadãos, integrando ao nível curricular e não curricular, conteúdos e actividades relacionadas com a educação para os valores e educação ambiental, exigindo aos alunos que desenvolvam o sentido de respeito pelos outros e por eles próprios, tolerância com a diversidade e pluralidade (cultura, social), de modo a gerarem uma responsabilização e uma consciencialização ética dos seus actos cívicos.
Os sistemas educativos europeus, em plena ampliação e sob o signo da globalização, da multiculturalidade e das políticas económicas de restrição financeira nas escolas, levam-nos a reflectir sobre os contributos pedagógico, as ideias psicossociais, as adaptações ou as correcções metodológicas necessárias que estiveram vigentes nas legislações anteriores. A heterogeneidade nas aulas apresenta-se como um problema no ensino, tendo em conta a diversificação das escolhas dos alunos e as respectivas diferenças individuais. O autor aborda quatro questões fulcrais: analisa a encruzilhada em que vive o ensino secundário no âmbito das reformas (na Europa), a questão das diferenças individuais dos alunos e a diversidade de escolhas a que têm acesso, e relança novos caminhos para o ensino secundário, perspectivando a qualidade da educação.
Em cada época surgem ideias pedagógicas, legislações, educadores e instituições destinadas a educar as crianças, que em certos momentos históricos foram tão esquecidas. A 1ª República (1910-1926) foi rica em ideias e normativas legislativas. Muitas delas ficaram no papel. O autor dá uma visão sintética da educação popular (instrução elementar), desde os finais da Monarquia até finais da 1ª República, abordando ainda, a criança na imprensa e literatura infantil nesse arco histórico. A evolução do ensino e da educação popular, antes e depois da implantação da República, tiveram consequências posteriores no ensino infantil e primário.
A educação não formal foi até agora pouco valorizada academicamente e ao nível escolar. Este estudo pretende oferecer um marco reflexivo, no âmbito pedagógico, sobre a educação não formal, sobre as aprendizagens não reguladas sobre a educação plural e aberta à não formalidade do currículo. É um facto que a escola deixou de ser espaço hegemónico da educação/formação, pois, as aprendizagens dos sujeitos são cada vez mais adquiridas em espaços partilhados e em modalidades diversificadas. Por isso, a educação não formal que esteve tão “marginalizada” da inclusão escolar, reúne praticas atractivas e motivadoras para os alunos, que devem ser articuladas ao nível do projecto educativo e/ou curricular ao nível do currículo formativo. O autor analisa o cenário da educação, da formação e da aprendizagem não regulada na sociedade do conhecimento ou da informação, em que o ensino transcende os limites tradicionais da escola, invadindo outros espaços e contextos educativos variados, as comunidades de aprendizagem, a cidade educativa na promoção de modalidades educativas interessantes à formação e à aquisição de competências, valores e atitudes nos educandos.
O artigo reflecte sobre as políticas sociais na Europa. O autor abordará os indicadores presentes na Agenda Social Europeia (2005-2010), dando ênfase especial às implicações metodológicas do próprio conceito de ‘exclusão social, ’à valorização das políticas sociais europeias contra a exclusão social, às novas tendências dessas políticas sociais no combate contra a pobreza e exclusão e, por último, aos desafios de inclusão social propostos naquela Agenda Social.
O artigo trata quatro pontos fundamentais da temática. No primeiro ponto aborda as questões conceituais relacionadas com o conceito de “cidadania” e da formação do cidadão, para um segundo ponto aprofundar o papel da escola nessa educação para a cidadania. No ponto seguinte defende a ideia de que a escola, com os seus espaços educativos, promove uma cultura comunitária. No último ponto destaca a importância dos espaços multiculturais na construção da “cidadania”, como uma tarefa educativa em toda a comunidade, por razões de identidade e vínculo social.
O envolvimento do comportamento alimentar nos idosos permite compreender as relações socio-afetivas, com a promoção da saúde, o nível de satisfação e qualidade de vida, reconhecendo que há diversos fatores (biológicos, sociais e psicológicos) relacionados com as práticas alimentares. A investigação qualitativa realizada com 40 idosos (idades entre 65 anos e 95 anos), frequentadores de centros de dia do concelho de Castelo Branco (E1, E2, L1, L2) teve como objetivo: compreender o significado da componente socio-afetiva da alimentação no quotidiano naqueles idosos; identificar os aspetos situacionais envolventes ao seu comportamento alimentar.
Aplicamos entrevista semiestruturada (14 questões) em aberto, além dos itens de identificação utilizando no seu tratamento (análise de conteúdo) o discurso do sujeito coletivo, sendo as respostas agrupadas por questões, destacando as “evidências narrativas” do conteúdo discursivo, devidamente agrupados em “nexos com a ideia central correspondente” para formar o discurso do coletivo.
Concluímos que os idosos não mostraram muita relação “pregressa” com a alimentação, tendo a maioria sentindo saudades dos momentos alimentares com a família ou conjugues. As narrações convergem para o “agora” com os amigos dos centros de dia, proporcionando a alimentação vínculos socio-afetivos, amizades, convívio, etc. – “comer em companhia”.
O autor reflecte sobre o tipo de relações estabelecidas entre a ‘escola – comunidade educativa’ no âmbito do sistema educativo português, destacando a importância das parcerias na política educativa local. Neste quadro discursivo de descentralização educativa valoriza as lógicas de acção e de participação dos actores educativos no modelo de autonomia das escolas, principalmente, na promoção da qualidade da educação /ensino. Ao nível prático a intervenção do poder local na educação processa-se numa perspectiva instrumental que contribui para o desenvolvimento local e para a coesão social. A relação ’escola – poder local’ deve desenvolver-se numa interacção participativa promotora de dinâmicas educativas na dimensão local. Neste sentido o papel das autarquias insere-se nessa matriz de política educativa local, que por vezes é problemática, mas que contribui para o sucesso escolar.
O pluralismo e o multiculturismo são características das sociedades democráticas modernas. O autor pretende fazer uma abordagem ao sentido da diversidade cultural e da educação intercultural. Neste contexto, um dos objectivos da interculturalidade é o de favorecer a integração dos povos e das culturas e, simultaneamente, alcançar-se uma cidadania intercultural. Contudo, é difícil termos uma conceptualização clara das propostas, dos programas e das iniciativas para essa implementação, inclusive no plano educativo. Uma das dificuldades está na complexidade da identidade cultural e no estatuto da ‘cultura’ como um bem primário. Haverá que criar uma consciência de inter-relação entre a pessoa e o meio e entre os diversos universos culturais, para uma autêntica convivência cultural e linguística na Europa.
O autor neste artigo insiste na importância da historicidade do quotidiano escolar e social (este implica o educativo e o cultural), principalmente na vida das instituições educativas, da criança em formação (em particular a mais desprotegida ou com dificuldades de aprendizagem), a convivência na comunidade educativa, a história de vida dos professores, etc. Todos estes aspectos implicam, o debate sobre as fontes documentais e perspectivas metodológicas (método biográfico, as histórias oral, as memórias, as biografias,...) preponderantes não só para a análise da vida quotidiana, mas também como elementos para história social e educativa. Destaca, ainda, dois campos de investigação na história social da educação e propõe algumas orientações da investigação em história da educação, com uma incidência sobre a importância da organização dos arquivos e das bibliotecas locais ou regionais como ponto de partida para as investigações de história local e da análise ao quotidiano escolar e social. O objectivo do presente estudo pode contribuir para reflexão sobre as interrogações relativas às orientações da investigação histórico-educativa actual.
Numa perspectiva ética e axiológica o autor pretende, no seguimento de outros estudos, reflectir sobre o modo de entender as relações do homem com o seu meio. Assim, trata de pontualizar duas classes de ética vigente e dar alguns pressupostos de uma educação para os valores. Noutro ponto, aborda a educação ambiental desde a perspectiva ético-moral e axiológica, terminando com algumas orientações pedagógicas para a prática de uma educação ambiental numa perspectiva formal (‘projecto – Escola’). Como incutir na prática e desde a escola uma educação ambiental que oriente os educandos para actuações de protecção e preservação da natureza? Esta é a nossa pretensão: justificar um modo distinto de defesa da natureza, de entender e praticar a educação ambiental, enquadrada na pedagogia dos valores.
A educação ambiental (EA) integra um conjunto de categorias educativas/pedagógicas (educação formal e não-formal) que proporcionam uns fundamentos para a inter-relação da “educação com o meio ambiente”. Trata-se de uma área da educação social, que serve, em termos de estratégia de intervenção, a animação socio educativa/socio-cultural, criando novas relações do Homem com os problemas ecológico – ambientais. O autor considera a EA como: uma exigência da análise cultural do homem, exigindo-lhe uma dimensão ético-moral; uma estratégia de educação (não ) formal/informal, que exige um diálogo cientifico-tecnologico-humanista sobre a natureza um estilo ambiental de educação (paradigma) no âmbito da pedagogia (ambiental). A revitalização ambiental da Pedagogia evidencia a valorização da educação da natureza e do aprender a aprender. O meio-ambiente não se inscreve apenas no meio educativo; social e cultural, também surge na realidade humana (cidadania), das relações e convivencialidade (axiologia).
Neste estudo é tratado o paradigma da relação ‘escola – comunidade educativa’ no sistema educativo português, destacando a importância das parcerias na política educativa local, no contexto da descentralização educativa. Valoriza as lógicas de acção e de participação dos actores educativos no modelo de autonomia das escolas, principalmente na relação ´escola – poder local’ na promoção da qualidade da educação/ensino. Aponta que o papel das autarquias na área da educação está regulamentado no Quadro de transferências de Atribuições e Competências do poder central para o poder local. Percebe-se que na prática percebemos que essa intervenção do poder local na educação se processa numa perspectiva instrumental para o desenvolvimento local e para a coesão social. Destaca que a relação ‘escola – poder local’ desenvolve-se numa interacção participativa de laços redutores e promotores de dinâmicas educativas na dimensão local. O enquadramento da intervenção das autarquias insere-se numa matriz de política educativa local que por vezes é problemática.
Temos por objectivo, neste breve estudo, fazer inicialmente um esboço histórico-descritivo da formação de professores, antes e depois da LBSE, para de seguida reflectirmos sobre essa formação à luz dessa Lei, cingindo-nos não só ao seu texto, como à análise hermeneutica de algumas questões relativas à formação inicial, à profissionalização em serviço (prolongamento natural da formação inicial) e principalmente à formação contínua dos professores destinada aos formandos profissionalizados e com vida activa.
A L.B.S.E. alterou, desde 1986, o âmbito em que se realiza a educação portuguesa. Manifesta a intenção política de reformar e implementar, com urgência, as devidas alterações de organização educativa e de formação após o 25 de Abril de 1974. A escola (de massas) tornou-se obrigatória até aos 15 anos de idade (Stoer, 1992), passando a ocupar um lugar importante na vida dos estudantes, dos professores e dos agentes educativos.
O estudo analisa historiograficamente as políticas educativas, sociais e assistenciais no Estado Novo (1930-1974), principalmente no período salazarista. Pretendemos verificar o impacto das medidas de política assistencial e social e, ainda, as reformas educativas (discurso normativo) referentes ao ensino como meios para se impor o desenvolvimento tecnocrático português e as suas consequências. A instauração de políticas e reformas de ensino (e de assistência social) tiveram muitas dificuldades de implementação, já que as reformas eram mais de origem urbana e reflectiam essa mentalidade, sendo muitas vezes inadequadas ou incompatíveis ao meio rural. O autor trata em os pontos essa análise historiográfica, dando uma contextualização da sociedade portuguesa ao nível político económico e de assistência social, antes e depois do estado Novo, e por fim uma visão crítica da realidade educativa e do ensino nesse período histórico até à revolução de 1974.
As teorias da educação não têm dado muita atenção aos fenómenos e às questões de prática pedagógica nos diversos contextos educativos, pois há uma falta de enquadramento nas estruturas ordenadas e coerentes e de fundamentação epistemológica, devido à complexidade, ao caos e à falta de um estatuto teórico mais adaptado a essas novas situações de prática pedagógica actuais. Desde a complexidade educativa haverá que reconstruir o conhecimento pedagógico, reconduzindo a aprendizagem dos alunos a novas práticas (aprendizagem de labirinto, aprendizagem interpretativa, aprendizagem criativa, autogestão educativa, investigação-acção, hipertexto, educação ambiental, etc.). O autor admite a possibilidade de novas teorizações sobre a educação (reconstrução das teorias da educação) ajustadas às características de educabilidade e da educação/formação dos novos públicos. O futuro estará no equilíbrio entre a escola real e a escola virtual, porque a complexidade é simultaneamente real e virtual, de modo que a escola hipertextual e criativa se transforme numa estrutura social baseada em redes, promotoras de inovação e criatividade nos alunos.
Na sociedade actual dá-se muita atenção à abordagem dos problemas sociais, culturais, educativos e de desenvolvimento económico e social ao nível comunitário (comunidade territorial, comunidade local e/ou regional). Sabemos que a comunidade é a tradição mais viva na organização social. De facto, a tradição comunitária está destinada a perpectuar o modo de produção e de vida (relações de convivência) apoiada em valores, tais como a solidariedade, a igualdade de direitos, a cooperação e a participação colectiva. O autor trata de analisar os conceitos que estabelecem uma interacção. O autor trata de analisar os conceitos que estabelecem uma interacção dinâmica, como são o de ‘identidade’, cultura’, ‘comunidade’, aprofundando o papel, as relações e as relações e as colaborações das autarquias e das instituições sociais com outros agentes comunitários no desenvolvimento (local) e inovação, com o tecido empresarial e com as políticas sociais e culturais. Hoje em dia não tem sido objecto de investigações os aspectos determinantes do desenvolvimento, incluindo a vertente tecnológica, de modo a dar ao progresso e à identidade das comunidades territoriais locais ou regionais.
No contexto social do conhecimento e da comunicação, a escola deverá abrir-se às prioridades da sociedade actual, redefinindo as suas relações com os agentes sociais e educativos e, simultaneamente democratizando os circuitos de acesso à informação. Esta estratégia de coesão social, cultural e educativa, permitirá uma melhor qualidade do ensino. De facto a globalização e a mundialização são desafios para a educação, sendo o acesso às redes uma garantia de qualidade. O autor reflecte sobre o contexto e a evolução da globalização actual, impregnada pelo surgimento das novas tecnologias e por uma maior exigência nas competências científicas e económicas.
A Psicologia Evolutiva permite-nos conhecer as etapas do desenvolvimento do ser humano, as estruturas cognitivas e afectivas, as progressivas aquisições, etc., ajudando-nos a estudar o desenvolvimento moral (juízo moral, sentimentos morais e a consciência moral) e os seus factores evolutivos. Nesta dimensão moral incluímos a “educação ambiental” como um dos conhecimentos importantes à evolução e desenvolvimento da consciência moral ao nível prático. O educador ambiental (como todo o educador) deve possuir um conhecimento mínimo das etapas do desenvolvimento moral ao longo dos quais aparecem os “universais” morais: sentido de justiça, cooperação, solidariedade, participação, etc., temáticas vinculadas de modo integral sobre o meio ambiente.
Vejamos três pontos básicos sobre esta relação: perspectiva cognitiva; a perspectiva Koklberg; e responsabilidade moral.
Actualmente é um tema de discussão mundial o consumo e o ambiente, pois a crescente exigência dos cidadãos pelos bens, serviços e produtos é cada vez maior, implicando um imenso consumo de matérias primas e recursos naturais, um processo acelerado de industrialização e de eliminação ou reciclagem dos resíduos (tóxicos e não tóxicos). A tríade, ‘educação, ambiente e participação´, ao estar inserida no âmbito pedagógico da educação para o consumo e para o desenvolvimento, supõe uma discussão, que na perspectiva do autor, aborda o tema do ambientalismo, do desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e as atitudes de consciencialização no acto de consumir. A educação para o consumo ou do consumidor constitui uma variável de formação integral do sujeito, incidindo na sua participação activa na comunidade ou sociedade. A finalidade é formar cidadãos conscientes das suas responsabilidades, dos seus direitos e de consumir o que é necessário.
Este estudo histórico-educativo está integrado numa investigação documental e empírica mais vasta sobre a formação dos rapazes abandonados, indisciplinados e delinquentes nas Casas do Gaiato, fundadas pelo Padre Américo (1887-1956) a partir de 1940 e o papel pedagógico dos educadores. O autor analisa, na vertente da historiografia educativa e da educação social, as dimensões e a evolução da Obra da Rua, os aspectos socioeducativos de formação e os contributos dados pelo seu fundador à História da Educação (Social), à História da Assistência à Infância Abandonada e Inadaptada e à História da Igreja em Portugal. O P.e Américo (1987-1956) foi um grande entre os grandes pedagogos portugueses dedicados à formação (educação não formal) de crianças e jovens marginalizados e em exclusão social e no apoio às famílias pobres e necessitadas.
Actualmente falar e identidade cultural ou identidade nacional ou regional supõe arbitrar os sistemas de convivência no social e, simultaneamente, nas capacidades de assimilação e integração, Já não existem regiões, comunidades ou sociedades fechadas no contexto da internacionalização económica (globalização) e da cultura planetária dos novos ‘media?. Haverá que procurar novos sentidos a um velho conceito de ‘IDENTIDADE’, que deverá ser sinónimo de interacção, de intercâmbio, de abertura, de cooperação e de solidariedade. Por isso, a ‘identidade’ constrói-se mantendo as antigas fidelidades e abrindo ao exterior (lógica de proximidade comunitária) para promover o desenvolvimento, a inovação e as tecnologias em espaços comunitários definidos geograficamente.
Poderemos propor um enfoque prospectivo de intervenção que envolva todas as entidades e instituições comunitárias, de modo a perseguir os fins desejados, no contexto dos desafios e das mudanças prováveis.
Poderemos propor um enfoque prospectivo de intervenção que envolva todas as entidades e instituições comunitárias, de modo a perseguir os fins desejados, no contexto dos desafios e das mudanças prováveis.
Em suma, devemos reflectir sobre a escassa atenção dada pela comunidade científica e pedagógica à problemática das políticas de desenvolvimento local/regional e das práticas sociais, educativas e culturais ao nível dos municípios ou comunidade territorial que envolva vários municípios. Haverá que aprofundar o papel, as relações e as colaborações das instituições, entidades e agentes comunitários no desenvolvimento e inovação, no mercado de trabalho e das políticas socias e culturais ao nível local e regional, pois não têm sido objecto de investigações esses indicadores, de modo a dar rumo ao progresso e à identidade das comunidades territoriais locais e transfronteiriças.
En 1988 la comisión de reforma del sistema educativo de Portugal lanzó un nuevo modelo de escuela superadora de la que podríamos denominar” escuela curricular”. Se trataba de la escuela cultural o nuevo proyecto escolar en el campo de la organización, de los espacios, de la disciplina, de los tiempos, de las actividades, de los recursos educativos y de las competencias, en donde el contexto “territorio” era envolvente y participativo. El autor aborda en esta ocasión la relación de estas escuela con la cultura y la sociedad a través de un paradigma de escuela pluridimensional en donde explica la gestión escolar, las actividades y los recursos educativos (la escuela como “club escolar”) terminando por analizar el perfil del profesor cultural. La escuela cultural es una escuela de pensamiento valorizada por la cultura, posibilitadora del cambio para una nueva vida escolar y potenciadora de los valores culturales, éticos y humanos
O autor define a educação intercultural na actual diversidade cultural e linguística europeia. Além disso aborda os princípios de uma pedagogia intercultural, considerando este tipo de pedagogia integrada nas chamadas “pedagogias de baixa densidade”, que são as que promovem situações de “encontro”, de relações interpessoais, de comunicação e de convivência entre pessoas. A educação intercultural integra-se no tipo de educação não formal e informal.
Pretendemos dar um contributo à história da infância esquecida da sociedade portuguesa, retratá-la no seu contexto temporal, dando-lhe voz, já que não a tiveram. Trataremos exclusivamente da criança abandonada mesmo que ela tivesse outra designação jurídico-social (por exemplo, as vadias, vagabundas, mendigas, órfãs, indisciplinadas, ‘em perigo moral’, desamparadas, etc.) e médico-pedagógica. A todas elas faltas-lhe a presença física e moral da família, a dimensão afectiva normal para o seu normal desenvolvimento. Por isso, eram recluídas em internatos ou estabelecimentos assistenciais, onde recebiam a formação adequada para a vida. Por esse facto o nosso país foi prolífero em criar diversos tipos de instituições.
Fizemos uso da nossa análise de documentação de várias áreas científicas (vertentes: jurídico-penal, sociológica, pedagógica, médico-assistencial, pediátrica, psicológica e ética), de monografias, de demografias, fontes de várias instituições, etc. Optamos pelo arco histórico de finais do século XIX, princípios do século XX, por ser um período onde o ‘abandono’ alcança cotas elevadas, onde se tomou várias medidas específicas o que justifica haver muita informação documental nos vários centros e arquivos nacionais.
A problemática da existência e da identidade da criança portuguesa, fundamentalmente as que se encontravam em situação de ‘abandono’, ‘semi-abandono’, ‘desamparo’ e ‘marginalizada’ acarretava-lhe comportamentos e atitudes de desviação social que deve ser tratada no âmbito de uma pedagogia social e/ou pedagógica dos inadaptados e dos marginalizados em Portugal (Martins, 1997: 349-364 e 1998: 251-270).
O estudo analisa historiograficamente as políticas educativas, sociais e assistenciais ao longo do Estado Novo salazarista e marcelismo (1930-1974). Pretendemos verificar o impacto das medidas de política assistencial e social e, ainda, as reformas educativas (discurso normativo) referentes ao ensino, como meios para se impor o desenvolvimento tecnocrático português e as suas consequências. A instauração de políticas e reformas de ensino (e de assistência social) tiveram muitas dificuldades de implementação, já que as reformas eram mais de origem urbana e refletiam essa mentalidade, sendo muitas vezes inadequadas ou incompatíveis ao meio rural. O autor trata em dois pontos essa análise historiográfica, dando uma contextualização da sociedade portuguesa em nível político, económico e de assistência social, antes e depois do Estado Novo, e, por fim, faz uma visão crítica da realidade educativa e do ensino nesse período histórico até a revolução de 1974.
Actualmente, a História das Ideias (qualquer história é já história das ideias) exorta à história cultural e é um bom alimento para a história social e educativa, nessa tentativa de análise da possibilidade do passado. Por isso, exige-se metodologicamente (apostamos pelo âmbito hermenêutico), por lado, à utilização pluridisciplinar da informação e a respectiva conceptualização e, por outro lado, à prática de um discurso transdisciplinar na compreensão do “factum” (no caso presente da história da educação constitui os desafios actuais) da realidade histórica significativa.
As ciências sociais e humanas aspiram a interpretar e explicar a acção social e educativa, numa tentativa de descrever as estruturas fundamentais do (pré)científico da realidade (mundo da vida quotidiano) em estreita correlação com as posições da sociologia e pedagogia da vida quotidiana, tão encoradas à teoria como à praxis, embora esta seja o seu ponto de partida.
Os caminhos e as tendências da historiografia educativa portuguesa, no período contemporâneo, retractam as características significativas da evolução da educação e da escola nos séculos XIX-XX. O autor realiza uma abordagem à historiografia educativa do ensino e da escola pública, cujo desenvolvimento regeu-se por três condicionalismos: o discurso legalista, político e normalista (legislação e intervenções políticas nos órgãos); a explicação pedagógica da realidade educativa; e as condições estruturais da educação e da escola oficial. As resistências às mudanças educativas ficaram marcadas pelo analfabetismo, pelos níveis percentuais de escolaridade, pelo insucesso e abandono escolar, pela formação e estatuto dos professores e, ainda pela política de centralização e descentralização do ensino.
Esta investigação histórica e documental enquadra-se no âmbito da História da Educação em Portugal. Trata-se de uma temática pouco usual, mas serve uma melhor compreensão da criança (e/ou menor, este é um termo jurídico-social) nas sua problemáticas educativas, sociais, assistenciais e de reeducação no período entre 1871 – altura da primeira fundação da primeira Casa de Correção e Detenção de Lisboa ocupando-se a partir desse momento o Estado destas. Problemáticas infantis e juvenis da marginalidade, abandono, desamparo e delinquência até 1062. Neste estudo admitimos a existência especial de uma pedagogia social portuguesa que integra contributos das várias ciências da época: jurídico-penais (direito de menores e legislação afim), ciências médico-pedagógicas, sociológicas, psicopedagógicas, filosofia do direito, etc. Todas estas influências permitiram a reflexão sobre aquelas situações da criança o que originou a criação de vários estabelecimentos especiais de correção e de reeducação, ao nível estatal e ao nível particular. Houve a aplicação de métodos (médico-pedagógicos, psicopedagógicos e sociológicos) inovadores no diagnóstico e na orientação dessas crianças. Demos, assim, um contributo valioso para a elaboração de uma História da Assistência à Infância Inadaptada em Portugal.
Padre Américo (1887-1956) foi uma figura sublime, “um Perdido’ pelos outros seres humanos mais débeis, ‘um revolucionário pacífico’, um ‘despertador de consciências’, um ‘apóstolo social’, um educador de rua, um educador social. Reconhecemos, logo de entrada, que nas iniciais do seu nime descobrimos o imperativo categórico das suas acções – AMA (Américo Monteiro de Aguiar), constituído como um espírito encarnado, imbuído na caridade evangélica e de humanismo social cristão. Foi um ‘ser-no-mundo’, um ser passível de amar os seres humanos em situação-limite de existência, dando-lhes carinho, amor e dignidade como ‘pessoas’
Efectivamente, há no P.e Américo uma ‘filosofia’ voltada para uma realidade existencial humana e para o individual (o pobre, o doente, o indigente, a criança) e que conflui com a sua vivência religiosa (espiritualidade activa). A Obra da Rua é essa floração do sentimento pelos’ outros’. Daí que o seu pensamento se apresenta como acção humana no contexto intracultural, em que esse filosofar assistemático e sem formalismo de linguagem é o seu modo de agir, dependente das relações que estabelece na realidade social. Bastava-lhe o Evangelho para encontrar nele a riqueza para actuar, coisa que os filósofos e os teólogos não pressentiam. Foi por esse facto que toma consciência da sua missão social, quando o Bispo de Coimbra, vendo que não servia para mais nada, o manda tratar dos pobres e doentes.
A discussão epistemológica que atravessa o campo de educação em relação ao conhecimento quotidiano, científico e escolar merece ser retomada na actualidade. O autor analisa a relação da “continuidade-descontinuidade” dos conhecimentos quotidiano e científico, sendo o conhecimento escolar o resultado da transposição didáctica do conhecimento científico em contexto de aprendizagem em sala de aula. Num primeiro ponto aborda-se as opções epistemológicas do conhecimento quotidiano e científico em três perspectivas diferentes. O segundo ponto parte da diversidade das formas de conhecimento, insistindo na (des) construção do conhecimento escolar, orientada à integração didáctica das várias formas de conhecer. A visão do mundo, desde dos seus paradigmas científicos, actua como marco referencial da conceptualização escolar e da evolução do conhecimento. Pretende-se clarificar o estado da arte da epistemologia das formas de conhecimento.
El autor aborda la existencia de una educación social en Portugal en el siglo XIX e en la 1ª república, en prole de la infancia e juventud delincuente, vadea, indisciplinada, desamparada e en peligro moral. En sus argumentos en el ámbito da pedagogía social, son a profundados pela analice à vertiente asistencial, médico-pedagógica, jurídico-penal e social e tratamiento correccional e reducativo aquella infancia desvalida. Destaca las reformas sociales e políticas destinadas a proteger lo menor, a criar instituciones de corrección e asistencia educativa e la difusión de medidas integradoras en la sociedad de aquéllos jóvenes que tuvieran reducación institucional.
O artigo insere-se na preocupação ecológica e ambiental, na perspectiva pedagógica (educação ambiental), ética-ecológica e filosófica (incidência do homem no meio). O autor analisa o conceito de educação ambiente (EA) e ecologia, no contexto ético-moral (consciencialização), rastreando conceptualmente vários enfoques relacionados com o paradigma ecológico e ambiental. Nesta interdisciplinaridade de abordagem ética, refere-se a noção de ecossistema, de ecologia social e de meio ambiente, propondo, ao nível da pedagogia ambiental (educação formal, não-formal e informal) alguns argumentos de reflexão perante a crise e problemas do meio humano e natural. São exigências do exercício participativo para uma cidadania ativa e urbanidade consciente, gerar uma consciência moral nas problemáticas ecológicas e ambientais, de modo a educar desde a escola o futuro cidadão para um planeta ambiental são.
A ideia de formar o cidadão tem por objetivo a sua ação participativa na sociedade, através de aquisição de valores. É este o papel da educação na formação do cidadão. O autor aborda três pontos fulcrais sobre a cidadania na diversidade cultural atual: a cidadania constitui uma aprendizagem moral e cívica promovida pela escola no processo de socialização dos indivíduos e na convivencialidade; a escola transmite uma cultura específica (escolar e social), adequando o individuo na comunidade, ensinando-lhe normas e pautas de comportamento adequadas à sua autonomia (pessoal, social); a escola como espaço de convivência (pedagogia da convivência) e de inserção (formação cívica) num contexto plural e intercultural da sociedade (inclusão) democrática. De fato, a escola com as suas parcerias (socioeducativas) promove aprendizagens para a socialização e cidadania, abrindo-se à comunidade com projetos, programas e ações, articuladas ou integradas no projeto educativo. (Utilidade social comunitária), de modo a despertar no cidadão valores que o enobrecem na participação e responsabilidade na vida.
As sociedades democráticas integram no seu seio as questões da multuculturalidade e interculturalidade. Há diversas correntes ou enfoques que intentam dar resposta a esses fenómenos, partindo de pressupostos antropológicos, filosóficos, psicológicos, sociais, linguísticos, políticos e, principalmente pedagógicos de formação do cidadão europeu e universal. Nesse leque da educação intercultural integram-se politicas, ações e modelos educativos e culturais diversos, que incidem na concepção da diversidade e pluralidade cultural existente e na organização escolar. Cada projecto intercultural tem na prática, programas, ações e experiências enriquecedoras que desenvolvem um ambiente e cultura escolar, desde o curriculo, promovendo a formação da cidadania na sociedade plural. O autor tem o objectivo de refletir desde a pedagogia intercultural e da educação intercultural na escola, de modo a propor um programa de educação intercultural, que eduque atitudes interculturais, a partir das aprendizagens diversificadas.
O aparecimento de novos espaços de aprendizagem em novos cenários da educação leva o autor a abordar a racionalidade do saber pedagógico; no âmbito da teoria da educação e/ou pedagogia. Assim, é essa racionalidade que sustenta a(s) teoria(s) sobre a educação e determina o questionamento do saber educativo ao nível conceptual ou teórico. A abordagem insere-se no campo da epistemologia pedagógica e da prática, considerando o saber sobre a educação uma racionalidade materialista na relação educativa (educador/educando) uma racionalidade tecnológica (saber fazer) e uma racionalidade hipertextual nas formas educativas formais e não formais (teoria sistémica). A reflexão faz-se em três pontos relacionados com as dinâmicas provenientes do universo educativo (escola, práticas, fatos, realidade educativa, etc.), no contexto dos saberes sobre a educação (periferia) e da(s) teoria(s) da(s) educação (conceitos, discursos, linguagem, áreas de saber das ciências da educação).
A interdisciplinaridade educativa pode ser entendida ao nível metodológico e didáticopedagógico, nas ciências da educação. O autor analisa, a relação de dependência de conceitos no marco da sociedade do conhecimento, tais como, a “escola-trabalho-cultura” que constitui o seu trevo hermenêutico de base. Na primeira folha desse trevo (Escola) propõe a sua refundação na base da politica educativo local, das parcerias socioeducativas, do partenariado, numa lógica de territorialização educativa (gestão participativa e autonomia). Na sua folha desflorada (trabalho) incide a sua interpretação na qualificação e profissionalização dos trabalhadores através da formação (avançada) e ampliação de competências no contexto do novo “Projeto social” da sociedade do conhecimento. No desflorar da terceira folha (cultura) divulga a ideia de uma cultura global com uma cidadania participativa e responsavel na identidade dos valores e tradições. Termina o seu argumento propondo três palavras pedagógicas para uma possivel quarta folha do trevo de análise: a aprendizagem substitui o ensino e o modelo de escola deve ser “refundado”; uma nova compreensão dos saberes do conhecimento na formação, através de novas formas de “aprender a aprender”; e novas leituras do currículo – projeto educativo de escola e projeto curricular de turma/aula, de modo a entender os conteúdos e métodos como meios educativos na sociedade do conhecimento.
Os objectivos, neste estudo, são os de abordar a figura do P.e Oliveira, a sua actividade e os seus contributos à pedagogia correccional e, paralelamente, analisar o conteúdo dos diplomas de 1911, 1919 e 1925, onde o seu pensamento está presente.
O percurso do P.e Oliveira na pedagogia correccional e na protecção e assistência à infância marginalizada, abandonada e delinquente relaciona-se com os diversos cargos e funções que desempenhou na obra tutelar de menores entre 1899 e 1923.
O autor aborda a problemática socioeducativa da reeducação dos menores, no período Histórico de 1871-1962. A investigação de índole histórico-descritiva e documental pretendeu abordar as questões relacionadas da proteção e correção dos menores (delinquentes desamparados, vadios e indisciplinados), nas linhas de abordagem: jurídico-penal e legislativa, assistencial e higiénica, educativa/pedagógica sociológica e jurídico-social; tratamento reeducativo institucional. Da análise à emeusidade e diversidade de fontes, arquivos, documentos e legislação avulsa que foram abordados pode (re)construir o percurso histórico da Educação social de menores e da Historia da Assistência à Infância, no âmbito da proteção, prevenção e promoção da infância e juventude em conflito e situação social de desviação. É pretensão do artigo inserir esta abordagem na pedagogia social portuguesa e na pedagogia dos inadaptados e marginalizados infanto-juvenil.
Trata-se de um contributo à historiografia da assistência à infância (historia da criança) que, além de interpretar essa evolução das medidas desde os séculos XIX-XX, analisa estatisticamente os menores processados nas tutorias de infância, entre 1927 a 1962 estabelecendo o “perfil do menor delinquente português nesse arco histórico.
A ginástica médico-higiénica, pedagógica ou militar foi utilizada em algumas “escolas” e asilos (Porto, Lisboa, Coimbra), entre elas a Casa Pia e a Casa de Correção/Escola de Reforma de Lisboa para rapazes instituciolizados em processo de correção e/ou reeducação e regeneração moral. De fato, foi a casa de correção (1903-1911) e/ou Escola de Reforma de Lisboa (1911-1919) que elevou este conceito pedagogico do ensino da ginastica para menores, julgados nos tribunais ordinários (até 1911) e depois nas tutorias de infãncia, como delinquentes, vadios, desamparados e indisciplinados, destacando-se nesse periodo histórico a figura do Pª Oliveira como introdutor dessa ginástica pedagógica de Ling nesse estabelecimento. Este pedagogo social e superintendente dos serviços jurisdicionais e tutelares de menores promover a ginastica na recuperação dos menores, tendo incumbido a M. F. Lima Barreto e, depois, ao Professor Furtado Coelho esse ensino. O autor aborda em três pontos, esta temática da ginástica naquele estabelecimento: ginástica pedagógica as consequências na regeneração dos menores; e a articulação da ginastica, com a higiene e profilaxias social.
Padre Américo, com a sua Obra da Rua, criada na década de 40 do século passado, interviu ações socioeducativas e regeneradoras dos comportamentos desviantes de muitas crianças da rua. No âmbito da história da Educação social e Pedagogia Social portuguesa aquele educador do social foi também um “educador de rua” ao realizar as suas intervenções em meio aberto onde as crianças marginalizadas andavam ao “Deus-dará”, tendo-lhe dado acolhimento e educação para a vida. O autor explica, desde o significado conceptual de educador social e de “rua” as ações realizadas pelo Pe Américo em prole das crianças abandonadas desamparadas vadias e pobres que percorriam as ruas das grandes cidades. A todas elas deu-lhe um lugar para se educar para a vida: as casas do gaiato, onde se designa por “gaiato”.
A pedagogia social (PS) é uma área Cientifica das Ciências da Educação com uma vertente teórica e prática de intervenção em coletivos específicos. Este termo teve pouca difusão em Portugal, talvez pela escassa influência alemã, daí ter-se confundido com “sociologismo pedagógico” e “educação social”. O autor aborda as problemáticas socioeducativas da proteção, prevenção e reeducação das crianças em conflito e situação social de desviação, ao longo dos séculos XIX e XX, defendendo a existência de uma PS e educação social nestes coletivos de menores em Portugal. Neste sentido a PS integra uma perspetiva descritiva e analítico-interpretativa no âmbito da teoria da educação especializada e da História da Educação Social, devido a preocupar-se pela assistência educativa e reeducativa/correcional da infância e juventude com problemas de adaptação à sociedade, incluindo a delinquência. Nesta abordagem aos campos funcionais da PS dos inadaptados destaca as figuras dos Padres António d’Oliveira e Américo como educadores sociais.
O turismo é uma problemática sócio educativa e formativa atual. O meio ambiente, o património cultural, artistico e etnográfico e os recursos humanos realidades sinérgicas inter-relacionadas pela perpetiva pedagógica, social, cultural e ambiental. Educar para o turismo é um desafio atual da sociedade. A pedagogia da empresa, pedagogia ambiental, pedagógia social e a pedagogia do turismo, no âmbito pedagógico das aprendizagens não formais, devem expressar educativamente a realidade social, económica, cultural e ambiental, evidenciando o papel funcional e pragmático para a convivência e cidadania das pessoas.
O autor divide em três pontos o estudo conceptual sobre a educação para o turismo: o turismo na perspepetiva da pedagogia de “baixa de densidade”; fundamentação pedagógica do turismo; e proposta de um modelo de pedagogia do turismo.
A animação sociocultural (ASC) significa o processo contínuo e global de ação e intervenção numa comunidade territorial, pretendendo promover compromissos de consciencialização e participação ativa nos indivíduos (cidadania, civismo), contribuindo para a sua formação pessoal e social. A comunidade converte-se em protagonista dinâmica do próprio desenvolvimento dos individuos contribuindo para a sua satisfação e qualidade de vida.
Numa perspetiva ampla a ASC enquadra áreas de atividades e realidades diversas, que integram formas variadas de: ocupação dos tempos livres e de ócio; ações de alfabetização (funcional, digital); recreação, ludicidade e de expressões; atividades físico-desportivas; recuperação do património natural, cultural e artistico; consciencialização ecológico-ambiental; recuperação de práticas de arte popular; atividades gastronómicas, etc.
O autor, numa análise hemistica à ASC, estrutura o artigo em quatro pontos: aproximação conceptual à problemática da ASC; os âmbitos e componentes da intervenção sociocultural; modelos de animador e a ASC no território de desenvolvimento de atividades. Por último, propõe-se um projeto de intervenção sociocultural num centro de tempos livros (associativismo).
Os computadores constituem ferramentas de auxílio à aprendizagem. Os jovens cada vez mais confecionam os seus proprios programas informáticos manipulando e aplicando em contextos do “aprender”. Uma nova aprendizagem surge com esta nova tecnologia da comunicação e informação, de grande utilidade no conhecimento escolar. É necessário ensinar a processar a informação e a aplicá-la nos contextos de utilidade para o educando. A renovação da escola passa pelo uso adequado do computador no contexto de sala de aula, promovendo um novo tipo de aprendizagem: a eletronica e a digital.
A presente investigação historico-descritiva e documental sobre a Obra de Santa Zita, do seu fundador (Joaquim Alves Brás) expresso nas suas ações e pensamento, pretende valorizar a “criada de servir” ou empregada doméstica desde o Estado Novo. Esta preocupação social e humana pelas empregadas domésticas, pretende dignificar pessoal e socioprofissional, do papel destas pessoas no trabalho no seio da familia portuguesa. Esta obra, com as suas instituições e valências, foram promovendo a mulher no seu trabalho doméstico, no âmbito, axiológico e de cooperação com a família empregadora. O autor historiográficamente analisou o espólio documental da Obra e do seu fundador, desde 1932, as politicas sociais existentes na época e outras fontes, avulso sobre os serviços da mulher ao nivel doméstico e familiar. O processo Reurístico do estudo teve varias fases: a do levantamento e tipificação documental e arquivístico, a análise de conteúdo aos documentos, revitas e imprensa, etc.; e a outa fase a de trabalho de campo com entrevistas as cooperadoras e pessoas contemporâneas ao fundador.
O autor aborda à memória histórica de uma instituição de assistências educativas e social a rapazes necessitados, pobres desamparados e desprotegidos moralmente: a Obra dos gaiatos do Centro de Assistência Social da Guarda, constituída em 1944.
Este estabelecimento privado de ensino apresentava como fins socio educativos e assistenciais: ministrar um ensino (primário, elementar, complementar) noturno; assistir educativa e moralmente; e promover a integração social daqueles rapazes. Em 1951, aquela Obra criou a Escola dos Gaiatos, oficializada pelo Ministério da Educação. Este estudo de caso duma instituição de ensino particular aborda os 34 anos da sua existência, que constituiu um polo para a formação da juventude da época até 1978 e consequentemente para o desenvolvimento local do ensino (noturno).
O autor analisa, no novo cenário de mudança, a emergência de temas diversos de políticas e reformas do ensino superior, da avaliação da qualidade, da extensão do serviço universitário à comunidade, das relações profissionais aos novos ambientes de trabalho, etc.
Destaca, em cinco pontos, o nível organizacional (estrutura das instituições com limitações), as funções (objectivos multidimensionais), o sistema de financiamento, a limitação dos recursos humanos e materiais (adaptação aos novos recursos tecnológicos), a gestão (problema da liderança forte), a avaliação do desempenho pedagógico, a avaliação institucional (avaliação interna, externa e meta-avaliação) e a qualidade de ensino, a qualificação profissional e o seu êxito profissional. Nesta análise interpretativa aborda, assim, os modelos de ensino superior no novo contexto da sociedade do conhecimento.
Revista online do departamento de letras da universidade da beira interior
Esta publicação reúne os resumos das comunicações apresentadas na III Conferência do IPCB sobre Livre Acesso ao Conhecimento “As doutrinas expressas em cada um dos resumos são da inteira responsabilidade dos autores e encontram-se ao abrigo da licença pública Creative Commons.”
A nossa investigação histórica – descritiva, utilizou como fontes documentais o espólio da Escola de Reforma (Museu em Caxias, biblioteca do Instituto de Reinserção Social – MJ), documentos na Biblioteca Nacional e da Torre do Tombo, os escritos do P.e Oliveira e fontes secundárias diversas (imprensa, relatórios dos serviços jurisdicionais de menores, legislação tutelar, etc.). O estudo insere-se no âmbito das comemorações dos Cem Anos da LPI (1911) e desta ‘Secção Preparatória’ (1912), pretendendo refletir sobre esta inovação pedagógica, no contexto da Obra Tutelar e de Proteção à Infância na 1ª República, das pedagogias modernas da reeducação de menores, assim como, do sistema organizacional daqueles estabelecimentos de correção. Dividimos em três pontos fulcrais o nosso estudo. No primeiro fizemos uma abordagem às medidas de proteção aos menores, no período da República, seguindo-se duma análise às ações do P.e Oliveira e terminamos com a explicação do programa educativo da ´Seção Preparatória’ (Duarte-Fonseca, 2005). Em definitivo, esta ´Secção’ iniciou uma nova fase de ressurgimento pedagógico na reeducação de menores em Portugal, com a construção de novas oficinas (plano do professor Abílio Meireles e Augusto de Oliveira), a intensificação de metodologias de ensino e de acompanhamento. Toda esta renovação teve o apoio e colaboração do P.e Oliveira.
O sabor pedagógico na história de vida e na memória oral de professores portugueses contribui para a elaboração do «fazer pedagógico» histórico. Os objetivos de estudo de 35 professores aposentados (M=3; F=32) na década de 90, que frequentaram a escola e Magistério Primário no Estado Novo e exerceram a profissão antes e depois de 1974, são os seguintes: resgatar os saberes guardados nas memórias dos professores, reconstruir e valorizar a educação nesse período; analisar como a pedagogia e a formação de professores fomentou ou não a valorização da profissão; compreender o exercício do «fazer pedagógico» na construção coletiva dos professores. A base teórica foi tida em conta para interpretar o contexto do sistema educativo no estado Novo e pós 25 de abril. A investigação qualitativa decorreu 2008-2012, insere-se no paradigma interpretativo (hermenêutico), utilizando a entrevista em profundidade (gravadas) e a análise de conteúdo das narrativas de vida desses professores, nascidos entre 3 arcos históricos (A=1925-30; B=1931-40; C=1941-55), com idades entre 56 a 90 anos. As categorias de análise e respetivas subcategorias foram: recordações da escola primária, formação no magistério; exercício profissional/experiências até À aposentação e mudanças no ensino. Os professores têm representações coincidentes com o modelo de ensino na época; recordam momentos de ensino, relação pedagógica e material didático, as tarefas e os castigos; no Magistério o currículo/ensino, saberes psicopedagógicos e práticas; a inserção no sistema (exame), as primeiras escolas em África, método de ensinar, o cumprimento de horários, a inspeção, a relação educativa, atividades, etc.; mudanças no ensino (democratização), ações de formação, relação com alunos e pais e políticas da educação. A história de vida no professor que aprende consigo mesmo, que descobre o aprender e o ensinar, valorizando o seu percurso profissional.
O estudo integra-se no ‘Projeto de Inteligência Emocional em alunos do 1.º CEB na região de Castelo Branco ’ da prática de um programa sobre a educação das emoções. Nessa aplicação detetamos casos de indisciplina, agressões (físicas, verbais) e desrespeito pelas normas disciplinares nos alunos nos espaços escolares e quisemos desenvolver numa escola urbana de Castelo Branco (2012- 13), um programa de intervenção de animação no recreio (atividades lúdicas organizadas). Fizemos inicialmente registos observacionais que demonstraram, que é no recreio que ocorre maior número de situações de indisciplina entre os alunos.
Numa perspetiva de paradigma interpretativo, utilizamos questionários (alunos, professores, assistentes operacionais), observações (naturais, sistemáticas e participantes), notas de campo e a triangulação de dados e metodologias. A intervenção de um programa de animação no recreio durante o semestre foi muito positiva (avaliação das atividades), na organização em grupos e na diversidade das atividades/jogos realizadas, que implicaram uma melhoria nas relações e convivência escolar, evitando-se situações de indisciplina ou incumprimento de regras.
Os motivos que levaram os alunos a ter alguns comportamentos agressivos foram devidos a conflitos relacionados com a ordem de jogar e o incumprimento das regras. A gestão e conhecimento das emoções e a compreensão dos outros permitiram aos alunos compreenderem as suas reações e a dos outros, quando brincam e jogam na escola.
Sabemos que a escola inclusiva pretende desenvolver uma pedagogia centrada em todas as crianças, de modo a educá-las com sucesso. É neste âmbito da educação inclusiva e educação especial relacionadas com alunos autistas que este estudo descritivo trata. Obtivemos informações, por um lado, dos professores (n=16) das Unidades de Ensino Estruturado e professores de turma, de três Agrupamentos de Escola da região centro de Portugal, sobre a utilidade dessas Unidades (entrevistas semiestruturadas) e, por outro lado, as opiniões (questionário) aos pais/encarregados de educação (n=8) dos alunos autistas em estudo, cruzando esses dados (triangulação) com a observação documental, natural (grelhas de registo) e participante realizada aos 8 alunos autistas em estudo sobre o seu desenvolvimento de competências básicas, comunicação e de interação social. Os resultados confirmam a valorização muito positiva dessas unidades de ensino nas escolas e o modo como intervêm os professores desse ensino estruturado.
A nova ordem mundial e transnacional faz que a globalização apresente alguns problemas educativos, entre eles, a identidade. Tudo isto determina no sujeito (aprendiz e aprendente), para ser ele próprio e poder desenvolver as suas capacidades, destrezas, valores e atitudes, a necessidade de se apoiar na síntese das experiências individualizadas, obrigando a escola a responder a este novo cenário, quer ao nível da estrutura organizativa, quer ao nível curricular. O advento da sociedade pós-capitalista do conhecimento ou do saber prova mudanças e conotações essenciais, alterando a revolução da produção em massa e da produtividade para a revolução da produtividade do conhecimento, da informação ou dos ‘intangíveis’. Trataremos de expor alguns pressupostos determinantes para o futuro do trabalho humano na sociedade do conhecimento, não deixando de aludir ao papel da ‘refundação da escola’. As novas formas de trabalho ao nível da educação actual implica a procura de alternativas (projecto curricular de escola e de turma, conteúdos e métodos como meios e não fins e o papel do professor ‘mediador’ das aprendizagens), de modo a capacitar o futuro cidadão e trabalhador para esta nova sociedade do conhecimento e da informação.
Os objetivos deste estudo de caso, realizado no ano letivo 2012-13, numa escola pública portuguesa sã o : compreender as representações dos alunos duma turma do 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico (n=26 alunos), sobre o uso da biblioteca escolar e como convertem a leitura de livros na melhoria da sua aprendizagem; analisar as atividades realizadas pelos alunos, partindo de obras literárias de modo a promover- lhes competências básicas de leitura. A área curricular da língua e comunicação é fundamental naquele nível de ensino para desenvolver as relações de vínculo e interesse dos alunos com a leitura. É uma investigação inserida no paradigma interpretativo tendo aplicado na prática um programa de atividades pedagógicas de leitura de livros (metodologia investigação-ação). Utilizámos a observação (natural, participante) na análise aos interesses de leitura, as produções orais/escritas dos alunos, entrevista à professora, questionários aos alunos, triangulação de dados, registos visuais e notas de campo. Concluímos que a leitura é uma das chaves para o sucesso escolar dos alunos, sendo uma ferramenta essencial para criar hábitos e desenvolver competências básicas de literacia, quer no domínio das palavras, dicção, vocabulário e oralidade, bem como do conhecimento subjacente à aprendizagem da linguagem escrita. As atividades de leitura e o uso da biblioteca foram muito valorizadas pelos alunos, criando-lhes 'gosto' por uma literacia informal.
O estudo valoriza a triplica relação entre ‘social-educativo-cultural’, no contexto comunitário, que conflui numa pedagogia do encontro e da convivência, na pretensão duma comunidade de todos e para todas as gerações. A argumentação, de teor hermenêutica, trata das seguintes questões: pedagogia ‘do’ e ‘para’ o encontro, inserida no âmbito das ciências da educação; o ‘encontro’ relacional e comunicacional, no campo da pedagogia da convivência comunitária e da pedagogia social/educação social. As novas práticas socioeducativas, com enfoque na construção social do sujeito crítico e criativo, proporcionam interações sistémicas e de intensa dinâmica entre o ‘sujeito-comunidade-conhecimento-convivência’, na apreensão e desenvolvimento de saberes, habilidades, perceções, emoções, troca de experiências e relações, no âmbito da cidade educadora
Objetivo deste estudo (metodologia qualitativa), na modalidade estudo caso de 2 alunos 3.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, duma escola pública portuguesa, foi o de analisar a indisciplina e/ou incumprimento das normas disciplinares que, cada vez mais, se reflete no rendimento escolar e que constitui uma preocupação para professores. Tendo em conta as teorias fundamentadas da indisciplina versus disciplina escolar indagamos as causas e os motivos que levam essas crianças a cometerem atos indisciplinares ou de incumprimento das normas, na sala de aula. As técnicas de recolha de dados utilizadas foram: inventário de tipos de atos a 9 professores; observação (documental, natural, participante); entrevistas a 2 professores e aos pais dos alunos em estudo; notas de campo; triangulação dos dados. Aplicámos um programa de intervenção aos 2 alunos para atenuar ou suprimir essas tendências e melhorar o seu rendimento. Sugerimos estratégias psicoeducativa aos professores para gerir e controlar a disciplina.
Abstract: We will analyse the triple ‘social-cultural-educational’ relationship, within the context of community intervention, converging in the pedagogy of encounters and coexistence, against the background of a community for all and for all generations. The reasoning contains hermeneutics dealing with the following issues: pedagogy ‘from’ and ‘to’ the date entered in the field educational sciences: the relational and communicational ‘date’, in the field of so-cial pedagogy and social education, the pedagogy of community coexistence. We know that new educational practices, focusing on the social construction of the critical and creative subject (paradigm), provide systemic interactions and intense dynamics between ‘subject-knowledge community-living. , convulsions and development of knowledge, skills, perceptions, emotions, exchange of experiences and relationships within the educating city (social networks).
A figura pedagógica de A. S. Faria de Vasconcelos, tão esquecido, mas tão atual na sua psicopedagogia de atenção diferenciada aos alunos e no contributo à orientação escolar e profissional merece ser analisada. Impregnou-se da ‘paidologia’, pedologia e psicologia para descobrir os interesses e motivações no desenvolvimento e na vida consciente da criança. O autor aborda hermeneuticamente, no âmbito da História da Educação portuguesa, os contributos daquele pedagogo ao sistema educativo republicano: análise à proposta de reorganização, na consolidação do estatuto da educação pública; papel das bibliotecas escolares no processo educativo dos alunos; importância da orientação escolar e profissional (Instituto de Orientação Profissional, em Lisboa) nos menores normais e ‘anormais’, fruto das suas ações e experiências de colaboração com outras instituições. Estes eixos norteiam a argumentação histórico-descritiva ressalvando o valor científico dado aos problemas escolares e educativos dos alunos, cuja solução a psicologia investigava, e ainda os aspetos referentes à preservação do ambiente educativo na estimulação das forças físicas e psíquicas da criança. A prática pedagógica preconizada por Faria de Vasconcelos abre novos horizontes na compreensão dos desafios atuais da educação, presentes no Relatório de J. Delors e Estratégia Europeia até 2020: educação e formação na aprendizagem ao longo da vida.
A partir do encontro do ‘social – educativo - cultural’ na formação para a cidadania (cidade educadora, sociedade de aprendizagens, sociedade para todas as idades), numa forma não formal de aprender ao nível comunitário de pedagogias de ‘baixa densidade’, o indivíduo promove-se no diálogo, na comunicação e saberes no âmbito de uma pedagogia da alteridade. As fronteiras entre pedagogias manifestam certas caraterísticas comuns numa cartografia integradora de aprendizagens formais e não-formais trasladados ao tempo de aprender a aprender ao longo da vida (rede sistémica). Historicamente essa intervenção ‘na’, ‘para’ e ‘com’ comunidade foi património de assistentes, trabalhadores sociais e educadores, mas hoje proliferaram outras profissões, no campo da educação social especializada, caraterizadas pelas práticas profissionais que exercem sobre coletivos ou indivíduos. O autor argumenta num trevo de análise de 4 folhas, em que cada folha é uma parcela da argumentação global, os seguintes pontos: 1.ª folha- a diáspora do social e do encontro na existência do ser humano; a 2.ª folha o educar em interculturalidade (educação e filosofia intercultural) para uma relação pedagógica de encontro ‘inter’, na perspetiva sociocultural, socioeducativa e geracional; 3.ª folha pedagogia do e para o encontro comunitária, no âmbito da educação social, geradora de uma rede de baixa densidade (sistema territorial e/ou comunitário); 4.ª folha de remate final que é o desafio duma pedagogia do encontro em alteridade, promovendo a sensibilidade (sentir e perceção), de modo a convidar, a escutar e a olhar para o(s) outro (s)s num diálogo e encontro intergeracional e intercultural.
Este estudo insere-se na história social da criança portuguesa errante e em conflito social. Utilizaremos uma metodologia hermenêutica de análise e histórico-descritivo, no âmbito da representação social da infância que se construíram e reconstruiram no contexto da história da educação social. Temos como objetivos: compreender as perceções feitas, pelas fontes e documentos, à volta da infância errante e em conflito social (séc. XIX-XX); conhecer a perceção e práticas da infância abandonada e errante através dos modelos do sistema jurídico; compreender o contexto histórico social da perceção dos adultos e da sociedade em relação a essa infância.
A corporeidade é o elemento de visibilidade dos embates do ‘corpo’ com o mundo, produzidos pelos efeitos histórico-culturais e pelas novas articula¬ções propiciadoras de predisposições estratégicas dos corpos e das almas, resultantes das forças do saber e do poder, que permite sedimentar esses confrontos e dinamizar campos de verdades historicamente constituídos e em constante mudança. O autor questiona, nos andaimes antropológicos, socio¬lógicos e pedagógicos, o sentido do ‘corpo’ e da ‘corporeidade’ no processo educativo, argumentando dois pontos fulcrais: a visão histórico-filosófica da semântica dos termos, insistindo nos discursos (elementos psicológicos relacionados com a identidade e imagem) sobre o corpo; a análise herme-nêutica à ‘corporeidade’ em Merleau-Ponty e Zubiri; a análise educativa da relação da corporeidade e aprendizagem, na complexidade escolar atual.
O autor aborda a importância de educar para o turismo, já que este constitui não só um desafio e possibilidade económica e social/cultural deste século, como uma área de formação para a cidadania – cidade educadora (âmbito das aprendizagens não formais do indivíduo). Essa pedagogia ‘do’ e ‘para’ o turismo situa-se no âmbito das ciências sociais e humanas e, especialmente na das ciências da educação, devido à relação ‘turismo-educação – meio/comunidade’ (vertente educativa). Essa pedagogia insere-se nas ‘pedagogias de baixa densidade’ (rede social/sistémica de ação dos indivíduos no seu quotidiano), que integra o encontro, a convivência, património, a comunidade cidadãos, a multiculturalidade, a intergeracionalidade, o consumo, a urbanidade, etc. O campo de intervenção e do ‘saber pedagógico/educativo’ ‘do’ e ‘para’ o turismo incide numa educação para os valores e convivência como elementos cruciais da sua ação, no campo de intervenção da pedagogia social, que tem na educação social e o trabalho social a sua vertente prática/praxiológica, ao estar orientada à socialização e promoção dos indivíduos na sociedade ou comunidade. A relação ‘animação-turismo’, como atividade complexa nas suas diversas dimensões, constrói-se no diálogo interativo de saberes ‘sobre’ e ‘para’ a comunidade. A análise hermenêutica assenta sobre: pedagogia social e pedagogia do/para turismo’, na perspetiva social/educativa e cultural; pedagogia do encontro (‘baixa densidade’ territorial/comunitária) nos meandros das atividades turísticas; desafios da animação–turismo-interculturalidade na comunidade.
O autor aborda a questão da infância pobre, marginalizada, abandonada e delinquente, centralizando-se nas suas imagens e/ou representações e, consequentemente, da sua ‘não educação’ (aspecto material), trata-se de uma temática que se insere na história da infância inadaptada (vertente cronológica), na história da criança (vertente categoria), na história da assistência educativa (vertente pedagógica) e na etnografia da infância marginalizada (vertente antropológica e sociológica). A partir dessas imagens será possível estruturar as suas histórias de vida, o seu quotidiano, as suas aprendizagens, os seus percursos, etc. Metodologicamente seleccionaram-se alguns textos (discursos e narrações numa perspectiva educativa e cultural) de periódicos (jornais e revistas) e de literatura infantil, que deram um conhecimento dessa infância e da prática do seu abandono e marginalização.
O conteúdo do artigo reflete e aprofunda os aspetos fundamentais de articulação da tríade ‘pedagogia social/educação social’, ‘comunidade’ e ‘escola’, todos estes elementos encontram-se em mudança nos seus modelos, ajustando-se aos novos cenários, contextos e exigências da sociedade do conhecimento. O autor estabelece uma abordagem reflexiva e hermenêutica assente em quatro pontos fulcrais: ao nível da semântica dos conceitos, situando-se no terreno epistemológico das ciências da educação; relacional, entre a pedagogia social (aspeto teórico) e educação social (aspeto prático), intentando interpretar a prática da ação (intervenção) do educador social (mediador); e a função da educação social no contexto escolar e os seus desafios. A educação social relaciona-se em considerar a pessoa, como um ser social irrepetível, constituída na base das possibilidades de aperfeiçoamento e socialização. Cabe ao educador social o papel de mediador na integração do indivíduo nos diferentes ambientes ou contextos. Toda a argumentação insere-se na perspetiva da pedagogia social, admitindo que a ‘pedagogia’ mantém a sua identidade como área científica independente, em que a normatividade é o seu princípio fundamental, na tentativa de justificação epistemológica do ‘saber fazer’. Daí que se conceba a pedagogia social como a ciência social e pedagógica que elabora fundamentos teórico-práticos para explicar os processos socioeducativos.
É importante a escola inclusiva e a família no apoio educativo ao desenvolvimento das crianças com necessidades educativas especiais, pois esse desenvolvimento poderá ser condicionado pela relação ‘escola-família’, pela formação dos professores, de modo a melhorarem a comunicação, a participação, a socialização relacional e o envolvimento dessas crianças em contexto de sala regular. O estudo realiza-se numa escola portuguesa do 1.º Ciclo do ensino básico, utilizando a metodologia do paradigma interpretativo, para compreender como se processa a relação educativa escola-família. Aplicaram-se as técnicas de recolha de dados, observação documental, natural e participante e a entrevista semiestruturada a dez famílias de filhos com necessidades educativas especiais. Analisaram-se os dados pela triangulação e análise de conteúdo, estabelecendo 6 categorias de análise interpretativa. Conclui-se que há necessidade de mudança da escola, melhor formação dos professores, melhoria nos apoios e recursos, capacitação dos pais para uma comunicação mais eficiente, um envolvimento e uma participação mais responsável.
Tese de Doutoramento apresentada a Departament de Ciències de l’Educació, Facultat d’Educació, Universitat de les Illes Balears
No âmbito das Teorias/Ideias pedagógicas e Instituições Contemporâneas da Educação analisamos os contributos de vários pensadores à educação ou pedagogia diferenciada ou especializada a crianças, jovens e adultos com necessidades específicas ao nível da educação, integração ou apoio social. Nesta perspetiva historiográfica sobre a Educação Especial dedicamos o estudo ao primeiro especialista em deficiência mental e ensino para os deficientes, que foi Edouard Séguin, discípulo de Itard e com formação médica-pedagógica, habitual na sua época. Este médico fisiologista que discutia com propriedade questões pedagógicas da deficiência mental foi o primeiro a indicar as causas orgânicas, hereditárias ou não, ambientais e psicológicas como específicas da idiotia. Séguin reconheceu a importância do treino sensório-motor para o desenvolvimento dos deficientes mentais, para além de ter sistematizado a metodologia do ensino especial na sua obra ‘Traitment Moral’, publicada em francês, em 1846, na cidade de Londres. Propôs, ainda, uma teoria psicogenética e afirmou que, qualquer que fosse o género da deficiência, o indivíduo poderia ser educado. Os progressos do deficiente dependeriam de três aspetos: o grau de comprometimento de suas funções orgânicas, o quanto de inteligência que o deficiente apresentava e a habilidade na aplicação do método.
O estudo analisou 16 entrevistas semiestruturadas a idosos de um centro de dia (LA), concelho de Castelo Branco. Utilizamos a metodologia de análise de conteúdo, holística ao conteúdo narrativo e do discurso do sujeito social. Demonstrou-se que o elemento mais importante da alimentação ou comida coletiva para idosos é a convivência, amizade com os companheiros/as e a sociabilidade/socialização, mais que o tipo de comida servida.
A educação parental é um recurso psicoeducativo, relacional e comunicacional na adaptação escolar. A entrada das crianças no ensino básico é um momento de mudanças, de emoções e anseios, para elas e para pais. Trata-se duma metodologia mista (quantitativa, qualitativa) que pretende interpretar a relação entre os comportamentos interativos e comunicativos dos pais e a adaptação dos filhos ao 1.º ano da escolaridade. Utilizámos técnicas de recolha de dados: observação participante (alunos); escala de perceção sobre competências parentais e entrevista semiestruturada (N=18 pais); notas de campo e triangulação. Confirmou-se haver uma boa comunicação entre pais-filhos, que recorrem com frequência ao diálogo para abordar situações escolares. Os pais revelam estar ‘presentes’ e preocupados, pela prática de atividades conjuntas com os filhos e pelo processo de adaptação à escola.
Análise de 8 entrevistas narrativas a professores aposentados, que relatam o seu fazer pedagógico antes e depois do Estado Novo em categorias indutivas (escola primária, Magistério, entrada no sistema educativo, experiências docentes antes e depois de 1974), sustentadas com teoria fundamentada do ensino da época, na reconstrução da memória histórica. Utilizámos a metodologia de análise holística ao conteúdo biográfico-narrativo das entrevistas.
Estudo de caso de metodologia qualitativa, realizado em 2014 numa criança com Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (ADHD) e Deficiência Mental (DM), sendo-lhe aplicado o Programa Cognitivo Comportamental - Villar e Llorente, para comparar os resultados com os de uma criança dita “normal” do ensino básico. Analisámos os dossiers individuais e outra documentação necessária à caraterização e descrição dos sujeitos e do seu contexto escolar. Objetivos orientadores: conhecer os serviços de apoio para os alunos com essas necessidades especiais; aprofundar a temática da DM e propor estratégias de intervenção para os professores. Utilizamos as técnicas da observação participante, Escala de Conners, entrevistas semiestruturadas a professores e pais, notas de campo e a triangulação. Verificamos resultados positivos com o programa, que corroboram outros estudos idênticos. Propusemos estratégias de orientação aos professores do ensino regular e apoio aos pais, de modo a melhorar aprendizagem e comportamento desses alunos
Abordamos o escolanovista Faria de Vasconcelos, no âmbito da pedagogia moderna, da
experiência na escola de Biérges (Bélgica) e da educação especial, com crianças anormais escolares. Com uma análise hermenêutica e histórico-descritiva, sobre o seu pensamento e ação pedagógica, pretendemos como objetivos: aprofundar a sua experiência em Biérges, integrada na Escola Nova, que envolvia os alunos para a inclusão, o poder de iniciativa, a observação, a experimentação e a cultura integral, ligando pensamento-ação; analisar os contributos dados à educação das crianças ‘anormais pedagógicas’ e às escolas, desde a reeducação mental e pedagógica. O marco teórico de análise assenta nas obras de Vasconcelos. O ensino partia sempre da aplicação prática, da aprendizagem por indagação, resolução de problemas e no trabalhar ‘fazendo’, desenvolvendo as dimensões básicas da criança: física, intelectual, moral e a cooperação cívica. A atenção especial dedicada aos ‘anormais’ que, na época não tinham escolas especiais, foi um contributo enorme à educação especial, realizando exames psicopedagógicos, diagnósticos e intervenções,
que davam uma orientação útil às escolas e professores. Muito do que fez o nosso escolano vista estimulou escolas na época e a formação de cidadãos livres, produtivos, com uma cultura geral e formação profissional. As propostas de Vasconcelos enquadram-se em algumas diretrizes da educação especial e apoio psicopedagógico
No cenário educativo contemporâneo, o âmbito de ação do Movimento da Escola Nova (EN) foi de contestação à escola dita tradicional, principalmente nos seus métodos de ensino e nos conteúdos, impondo a renovação pedagógica da ‘escola’. Trata-se de um movimento não uniforme, pois esteve constituído por uma plêiade de autores e experiências escolares diversas que fizeram difundir ideias/princípios, com impacto posterior em muitas tendências educativas contemporâneas. Os princípios teóricos, que sustentaram aquele movimento concretizaram-se à volta de uma educação ou escola ativa (europeia) e educação/escola progressista (americana), insistindo no âmbito didático, na procura de novas formas do ‘saber fazer’ (‘aprender a fazer’) e no combate contra o método
único da escola tradicional. O papel do professor, a organização escolar, o programa (manual escolar), o currículo e a aplicação de metodologias diversificadas no processo ensino-aprendizagem contemplavam os interesses e a riqueza do aluno (física, estética, caraterial, moral e social), para além do respeito da sua singularidade. Assim, a EN, sendo um movimento de renovação pedagógica de reforma educativa estende-se com ações heterogéneas de mudança na pedagogia e na prática educativa, constituindo-se numa corrente educativa na História da Educação e da Pedagogia. Analisaremos em três pontos a nossa argumentação: em primeiro lugar o surgimento do movimento da EN, como uma corrente de protesta contra a escola tradicional, surgindo como internato familiar, onde a experiência pessoal da criança e os métodos ativos converteram a escola como inovadora; em segundo lugar a evolução do movimento da escola nova, as suas experiências díspares e a consolidação das ideias e métodos/modelos de ensino
(individualização, socialização, autoeducação, globalização e mistos). ; por último o impacto das ideias da EN, a sua proliferação de alternativas, enfoques e tendências educativas, ao longo do séc. XX.
Abordamos hermenêuticamente a descentralização e a territorialização educativa em Portugal, numa tríade de relações: ‘escola-comunidade educativa’, parceria socioeducativa e política educativa local. A intervenção do poder local na educação processa-se numa perspetiva instrumental virada para o desenvolvimento e coesão social. As autarquias são os parceiros responsáveis pela educação e os professores valorizam a relação escola-comunidade educativa, principalmente na promoção da qualidade. A relação ’escola-poder local’ efetua-se numa interação participativa dos laços redutores e promotores da administração e gestão escolar, com lógicas de ação e racionalização das parcerias.
Vivemos num cenário emergente de instabilidade social, económica e política, de globalização, de fragmentação, de exclusão, de desfiliação social e de processos de individualização caraterizadores da sociedade atual e que provocam reações em defesa das identidades. Há um regresso à comunidade ou ao comunitário. Mesmo com dificuldades terminológicas e concetuais a ação comunitária implica o ‘encontro’ e o desenvolvimento de processos transformadores das situações das pessoas ou coletivos. A temática abordada insere-se na área da pedagogia social e comunitária em que a intervenção socioeducativa e ação comunitária imergem no desenvolvimento de redes sociais (pedagogia de baixa densidade). Ao nível prático é necessário dinamizar um modelo de intervenção comunitário promotor da solidariedade e da inclusão. É na base hermenêutica que ancoramos a tríade ‘pedagogia social – comunidade – intervenção social’, que servirá de abordagem aos momentos argumentativos (‘indícios de análise’): a dimensão comunitária em contexto de
pedagogia de ‘baixa densidade; a pedagogia do ‘encontro’ ao nível comunitário na base dialógica; terceiro indício sobre a pedagogia da convivência e do desenvolvimento geracional como trampolim de uma sociedade para todos e para todas as idades. Consideramos que todas as aprendizagens não formais, no contexto comunitário, para além das formais, constituem áreas favorecedoras do desenvolvimento pessoal, social e profissional do indivíduo e, simultaneamente da convivência e do diálogo geracional (paradigma conversacional). Assim, a educação, como fenómeno social, complexo e diversificado, enquadra-se na formação para a cidadania, ou seja, no educar da comunidade e das
pessoas/grupos promovendo o ‘encontro’, a convivência, inclusão, a solidariedade geracional e os valores
Assistimos a tempos complexos e de mudanças, com acontecimentos que afetam as virtudes e valores cívicos e sociais, apesar dos contributos das teorias éticas e políticas (comunitarismo, republicanismo), alternativas ao neoliberalismo dominante. O conceito de ‘crise (s) passou a ser habitual, numa variedade e contingência de acontecimentos, cada vez mais definidores do contexto social (económico, educativo, cultural, político). As alterações nas sociedades democráticas, nas condições dos cidadãos, a mobilidade, a multiculturalidade, a segurança cidadã, a intervenção de movimentos sociais, o poder do consumo, a globalização na sociedade digital, etc., tudo fez mudar hábitos, estruturas, formas de vida, que estão a evidenciar uma nova cartografia de tipologias de
organização social. A educação cívica incide na educação dos indivíduos, numa sociedade que transformou a conceção moderna de cidadania, devido aos influxos da sociedade do conhecimento, num rumo unilateral de economicismo e consumismo, onde as problemáticas cívicas e cidadãs se agudizam, exigindo novas formulações e soluções. O ‘deslumbrar’ no título refere-se à aposta pela cidadania ativa, complexa e intercultural, ancorada nos valores cívicos, sociais/morais. Teremos como referência teórica algumas perspetivas de autores (Klein, Raussell & Raussel, Ph. Pettit, Colom, A. Cortina, Toffler), que assentam em objetivos articulados com a diversidade cultural, as propostas educativas e os valores na formação do cidadão. O estudo assenta em quatro pontos: A teoria crítica da sociedade e os argumentos sociocriticos da educação cívica; A educação cívica e formação da civilidade; Uma pedagogia para a sociedade civil; A educação para a cidadania ativa, complexa e intercultural pelas virtudes cívicas
Trata-se da análise à Sessão de Lançamento e apresentação do livro (12 de junho em Castelo Branco, na Escola Superior de Educação), de autoria Ernesto Candeias Martins, com título "As infâncias na história Social da Educação, editada pela Editora Cáritas em 2018, com Prológo da Dr.ª Rosário Farmhouse (Presidente da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens) e Prefácio do Professor catedrático Justino Magalhães (IE/ULisboa) abordando as crianças ditas 'anormais' na época do século XIX e/ou as 'Outras Infâncias no período da contemporaneidade, com incidência em pressupostos e teorias que tratam da criança(s) e a sua infância(s) no âmbito da História Social da Educação/História da Educação e História (Social) da Infância. Este cadernos da Editorial Cáritas integra palavras da Dr.ª Rosário Farmhouse, do Professor Doutor Justino Magalhães, do apresentador do livro na Sessão de lançamento Juíz Desembargador Dr. Paulo Guerra (CEJ da UCoimbra), conversa com o autor, o tema do «Papel das instituições de acolhimento e da Escola com as Crianças e Jovens em Risco» do Dr. João Gaspar (UCoimbra) e da "Plataforma de Apoio a Jovens Ex Acolhidos (PAJE) a cargo da Dr. Fernanda Gaspar.