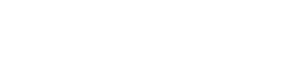Search results
291 records were found.
O Movimento da Escola Nova apresenta-se como um modelo didático e educativo (estratégias e métodos) diferentes dos utilizados pela educação tradicional, pretendendo situar a criança/aluno no centro do processo ensino-aprendizagem, de modo ativo e interessado pelos conteúdos, deixando o professor de ser o ponto de referência. Este movimento surge na Europa, (figuras de A. Férriére, Claparède, Decroly, Montessori, etc.), num contexto histórico propício proveniente das mudanças e progresso na sociedade da época, onde a preocupação científica pelo desenvolvimento da criança e da sua infância, atrai várias ciências e áreas científicas e a criação de vários movimentos em prol da criança procedente de âmbitos sociais, culturais e económicos distintos, a partir de meados do séc. XIX. A. Férriére, um dos mentores da divulgação deste Movimento estabelece no prefácio do livro de Faria de Vasconcelos, ‘L’École Nouvelle de Biérges’ (1915) os 30 princípios orientadores na prática dos ideais da escola nova. Nos EUA encontramos um movimento semelhante ao da Escola Nova, designado por Escola Progressista, de teor pragmático e experimental, destacando-se a figura de J. Dewey, na crítica aos princípios educativos da escola tradicional. Este movimento difunde-se ao nível universitário e é adotado pelos professores das escolas públicas e associações de profissionais com o intuito de transformar a sociedade através da educação. O termo central deste movimento europeu e americano é a atividade, o aprender a fazer no ambiente natural e educativo, em que a aula se transformava em vida social, com uma cultura material de educação própria (mobiliário flexível, os livros são pautas de trabalho e atividade, programação prévia, construção mútua dos conteúdos, adaptação do ensino às situações didáticas, etc.), partindo tudo dos interesses e motivações dos alunos. Este Movimento desdobra-se em quatro etapas: etapa de ensaios e experiências (1889-1900); formulação de novas ideias educativas e o pragmatismo de Dewey e escola do trabalho de Kerschensteiner (1900-1907); renovação metodológica, com aplicação de métodos ativos (individualização, socialização, mistos, globalização e autoeducativos/atividade) (1907-1918); consolidação e difusão das ideias e métodos da escola nova (1918--). A Escola Nova foi criticada injustamente nos seus princípios fundamentais, desde o setor da educação católica pela coeducação, por movimentos políticos e educativos pela memorização e controlo da inteligência e vontade e, ainda abuso dos sentidos e das atividades.
Pretendemos abordar a política de inclusão dos alunos de necessidades educativas especiais (NEE) na base das perceções dos alunos ditos normais sobre os seus ‘pares’ deficientes. Norteamo-nos pelos seguintes objetivos: compreender como os alunos normais aceitam e percecionam os seus pares com NEE; conheceras respostas socioeducativas dos professores e da escola às NEE. Trata-se de um estudo de caso, de índole exploratório, analítico e descritivo, realizado em 2015,com alunos do 10.º ano de escolaridade, no Agrupamento de Escolas da raia portuguesa. Aplicámos as seguintes técnicas de recolha de dados: questionário aos alunos; entrevistas aos professores; observação documental e participante; notas de campo. Adotámos no tratamento de dados a triangulação. Os resultados confirmaram a boa relação entre escola inclusiva e pedagogia diferenciada, a convivência e relações interpessoais entre alunos. Houve integração normal dos alunos diferentes nos contextos da escola e sala de aula, reconhecendo-se a necessidade de mais apoios especializados e de orientação.
Buscou‐se abordar a animação sociocultural como promotora da satisfação e qualidade de vida no processo de envelhecimento de 68 idosos, de cinco centros de dia rurais, na região de Castelo Branco (Portugal). Foi um estudo de metodologia qualitativa, longitudinal, descritivo, analítico e interpretativo, no ano de 2015. Nortearam‐nos os seguintes objetivos: promover o nível de satisfação com atividades culturais; desenvolver relações de convivência e autoestima; melhorar o clima social. Foi utilizado como técnicas de recolha de dados as entrevistas e observações aos idosos, responsáveis e técnicos, para além da análise às variáveis sociodemográficas de caraterização dos sujeitos intervenientes. Aplicou‐se aos idosos um programa de atividades de animação sociocultural para melhorar o estado de ânimo, as relações, a convivência e qualidade de vida. Compreendeu‐se a realidade social analisando as necessidades e exigências dos idosos e promoveu‐se a sua participação nas atividades. O programa foi autoavaliado pelos idosos e técnicas responsáveis dos centros. Os resultados demonstraram o que os estudos confirmam: a qualidade de vida aumenta à medida que os idosos realizam tarefas e atividades socioculturais periódicas de que gostam e são protagonistas. Houve uma melhoria na autoestima, na satisfação com a vida e no clima social e institucional, através da animação cultural
O primado do pensamento do autor é de que as diferentes infâncias se obtém por dedução do nuclear socio-histórico: infância. Não cabe aqui dialogar com o autor sobre a justeza deste primado, mas anotar quanto há de esforço no texto do autor para constituir e instituir o que chama de “infâncias outras”. Cabe também desafiá-lo a que não esmoreça na coragem de pedra a pedra e de modo indutivo, trazer ao leitor esses outros perfis de infância, (in)terrompendo contínuos temporais e demarcando tempos fortes nos planos socioeconómicos, culturais, educativos, pedagógicos.
O propósito deste livro foi o de saber como e de que maneira os historiadores sociais e da educação abordaram o tema das crianças ‘SEM' uma infância normalizada, ou seja, analisar a criança abandonada, vadia, pobre, desamparada, desvalida, em perigo moral e delinquente inserida na História (Social) da Infância, História Social e da Educação e História das Instituições Educativas (não formais). O autor analisa esse tipo de criança, no domínio da sua infância, à luz da História da Educação Social, História Social da Infância, desde a modernidade à contemporaneidade. Ou seja, recorrendo a uma variedade de fontes embrenha o seu discurso argumentativo nessas infâncias nos contextos da época, intentando perceber como eram encaradas essas ‘Outras Infâncias’, que respostas sociais, medidas e dispositivos lhe foram dados na sua proteção, prevenção e (re)educação, seja na vertente médico-social, assistencial e jurídico social, seja ao nível da sua institucionalização. Destaca, nessa aproximação temporal descritiva e crítica, as situações e condições sociais, as problemáticas e necessidades dessa infância que estavam à margem da sociedade da sua época, mas que conseguiram refazer o seu percurso de normalização, educando-se e sendo cidadão válidos.
Tenim la intenció de fer un «cop d’ull sobre aquella infància» en dificultats socials
i/o conflicte social, en el camp de la Història (Social) de l’Educació i/o la Història
Social de la Infància. Analitzar historiogràficament aquesta «altra infància», que estava
en els marges de la normalitat social i del sistema educatiu, a principis del segle xx
a Portugal. Hi havia qüestions de regeneració i (re)educació d’aquesta infància i les
modalitats de govern en els internats (reformatoris) que obeïen a formes de racionalitat
i a contextos temporals propis, inserits en un moviment de reforma social, a partir
de finals del segle xix. Tenint en compte els dispositius legals penals o la rehabilitació
social i legal i institucional dels menors, en aquest període històric, tractarem: la marginació
i la delinqüència de nens i joves com a objecte de la Història de l’Educació
Social, en relació amb les circumstàncies de desviació social i regulació legislativa (la
Llei de protecció de la infància de 1911); l’acció social i reeducativa del mentor de
protecció tutelar de menors (Pe. Antonio de Oliveira); el règim disciplinari i el sistema
socioeducatiu en els establiments especials (Secció Preparatòria de l’Escola Reforma
Lisboa entre 1912-21).
O tema da educação dos adultos e/ou adultos maiores merece uma reflexão epistemológica, em relação à ação dos profissionais, nas diversas valências na rede social e comunitária, como nas instituições educativas. Utilizando uma argumentação hermenêutica, o autor aborda a necessidade de implementar propostas socioeducativas para os adultos maiores, por meio de programas intergeracionais, destacando o papel da gerontologia educacional ou gerontagogia, a qual se integra no campo da educação social. Os objetivos que nortearam esta análise fenomenológica são: repensar a educação de adultos maiores, na área da gerontagogia; analisar os aspetos socioeducativos, psicopedagógicos e metodológicos nas ações e nos programas gerontológicos, com a finalidade de promover uma cidadania ativa. Refletiremos epistemologicamente as possibilidades educativas, provenientes da pedagogia social/ educação social e a gerontagogia, de modo a dar uma qualidade de vida aos adultos maiores, numa sociedade para todas as gerações.
We approach the escolanovista Faria de Vasconcelos, in the context of modern pedagogy, the experience - School of Biérges (Belgium) and the special education with school abnormal children.
Using hermeneutic and historical-descriptive analysis on his pedagogical thought and action, the goals of this study are: deepen the experience with Biérges, integrated into the ideals of the new school, which involved students for inclusion, the power of initiative, the observation, experimentation and integral culture, associating thought-action; analyze of the contributions to the education of abnormal pedagogical children and to schools, from mental and pedagogical reeducation. The theoretical framework of analysis is based on the works of Vasconcelos. Teaching always included the practical application, the learning by
inquiry, problem solving and the working doing, developing the basic dimensions of the child: physical, intellectual, moral and civic cooperation. The special attention given to abnormal, which at the time had no special school, was a huge contribution to special education, conducting psych pedagogical examinations, diagnostics and interventions, which provided a useful guidance to schools and teachers. Much of what the escolanovista made has encouraged schools at that time and formed free, productive, citizens with a general
culture and professional formation. The proposals of Vasconcelos fit some guidelines of special education and psychological support
La historia de la escuela es paralela y reflecte la cultura de la sociedad de cada época. Por eso, la escuela constituye un objecto historiográfico, por lo cual la conceptualización del sistema educativo, la escolaridad, las instituciones escolares, corresponden a un continuo evolutivo de perspectivas pedagógicas, discursos y políticas. Si el estado en el siglo XIX deja la esculea a la incumbência de los municípios enl siglo XX será él a incumbirse de su manutención económica (problemática de la descentralización y de la centralización). En términos historiográficos hay tres interrogaciones de la evolución de la escuela publica: el enunciado legislativo (proyectos de ley e reformas educativas), explicación pedagógica (realidad educativa de la época) y las condiciones generales e específicas de las escuelas (organización escolar), formación del profesorado y red escolar. La literatura y las teorías pedagógicas estaban mas cercanas a la realidade (insuficiências) de las escuelas que el ordenamiento de la política educativa (legislación). La política y la pedagogia ni sempre se han puesto de acuerdo. Todos los processos de investigación histórica son multidimensionales y complejos, en una base interdisciplinar, por lo cual los historiadores buscan comprendery explicar la realidade educativa y las instituciones escolares en su organización y evolución. En nuestro trabajo haremos un balance histórico e evolutivo de la escuela publica (instrucción pública) y de la escolaridad en el siglo XIX basta meados del siglo XX. Haremos una sumula histórica de la escuela primaria en Portugal en ese período histórico.
Várias reformas e até projetos de reforma do ensino português fazem parte da historiografia educativa do século XIX, com o começo do sistema em 1936 e, perlongando-se no século XX com propostas renovadoras republicanas, estagnação da educação no Estado Novo salazarista, alguma abertura no período de Marcelo Caetano com a Proposta de Reforma de Veiga Simão e, posteriormente as mudanças operadas após o 25 de Abril de 1974 que convergiu para a promulgação da Lei de Bases do sistema Educativo de 1986. Houve um desfasamento entre as intenções reformadoras (legislação avulso) e a realidade educativa concreta, constituindo um indicador comum, unido ao elevado analfabetismo na população, ao longo deste período de estudo (séc. XIX e XX), com políticas de centralização e descentralização da política educativa. O sistema educativo português passou por uma construção retórica da educação, em que o estado promulgava preceitos legais que eram difíceis de implementar. Por isso no ´Século da Escola’ houve projetos de reforma que fracassaram sucessivamente, desde Rodrigo da Fonseca (1835), a Passos Manuel (1836) a João Camoesas (1923 e, posteriormente a Lei Veiga Simão (1973). Toda esta oscilação renovadora, aliada à dificuldade de sustentabilidade das autarquias em manter a rede escolar, ao défice de formação de professores no âmbito das pedagogias modernas, levou o país a alcançar baixos níveis educacionais no contexto europeu. Décadas e décadas de falta de investimento na educação, as convulsões políticas, as cegueiras ideológicas, as crises económicas, o retrocesso do ensino no período salazarista, etc. deixaram um sistema escolar desfasado e retrogrado a uma culturalização da população e direito à educação. O estudo aborda historiograficamente o sistema escolar português, desde o século XIX até 1974, passando por uma análise à instrução pública no período do liberalismo, Monarquia Constitucional, 1.ª República, Estado Novo e terminando com os novos ares de mudança com o 25 de Abril. O ensino oficial e a escola pública (primária) constituem as balizas da memória histórica desta análise educativa.
O autor destaca, numa abordagem histórico-educativa, as tendências pedagógicas, as reformas do ensino e os projetos de lei (sem aprovação) relacionados com a evolução do sistema escolar português desde do século XIX até ao 25 de Abril de 1974. Esta análise evolutiva dedica uma atenção especial à instrução primária e aos seus professores. Os diplomas e/ou normativos jurídicos e planos de ensino publicaram-se num ritmo alucinante, muito dependente do contexto e contingências de cada época, das conjunturas político-ideológicas, económicas e sociais, apesar de se deixar na ‘gaveta propostas de qualidade, como por exemplo, a Proposta de Reforma do Ensino de João Camoesas (1923), cujo mentor foi Faria de Vasconcelos. De facto, a instrução pública primária esbarrou com enormes dificuldades ao longo dos tempos, mas foi aquele nível de ensino que mais se ajustou às inovações e renovações pedagógicas, com experiências didático-curriculares de interesse, exceto no Estado Novo, onde a continuidade do livro único foi uma norma. Ao longo desse período de estudo a realidade da instrução confrontou-se com muitos problemas, por exemplo: o elevado analfabetismo infantojuvenil; inconstância entre centralismo e descentralismo do sistema educativo; a falta de uma rede escolar mais alargada e consistente; uma organização escolar mais eficaz; um défice de formação de professores no âmbito das pedagogias modernas; problemas económicos de sustentabilidade do sistema por parte das autarquias; etc. O texto está dividido em quatro pontos insistindo sobre a instrução primária, a análise às reformas educativas liberais e republicanas no ensino primário, a preocupação pela educação das crianças, o período da educação no salazarismo; e os novos aires de mudança do sistema educativo, após 1974.
Estudo de caso (metodologia qualitativa) realizado em 2013sobre inteligência emocional em alunos portugueses, frequentando 1.º ciclo educação básica, com idades de 6-7 anos de 2 escolas urbanas:2 crianças (M=microcefalia, A=autismo atípico); 2 crianças (N= criança normal, H= perturbação de hiperatividade com défice de atenção). Os objetivos pretenderam: Demonstrar a importância das emoções na aprendizagem; identificar e lidar com as emoções em situações; propor estratégias para cada criança, aquando dos resultados obtidos com aplicação do teste projetivo e utilização material didático. Metodologia: atividades com ―Uma caixa cheia de emoções‟; prova projetiva ―Era uma vez…‖ Teresa Fagulha; ficha de anamnese aos pais; análise documental aos processos; observação participante; notas de campo e triangulação. Os resultados permitiram estabelecer estratégias para diminuir os fatores de distratibilidade, facilitar a atenção com material visualmente atrativo e manuseável e fornecer instruções acompanhadas de observação. Houve dificuldades nos sujeitos em identificar a ‘ira’ e ‘raiva‘.
A luta da escritura contra a imagem marcou a história e, neste caso específico da História da Educação e H.ª da Educação Social. O aparecimento a fonte visual da fotografia facilita a reprodução e multiplicação mecânica de todas as coisas que nos rodeiam bem expresso nas artes e nas ciências, sustentando um sistema de comunicação e de transmissão da informação que temos sobre a compreensão do mundo. Temos como objetivos: demonstrar que a fotografia não é só um suporte para a imagem, é também um suporte ‘de’ e ‘para’ a memória (histórica), pois a sua força e atração percetiva reside na sua capacidade técnica de suspender o tempo e centraliza o espaço num momento dado; compreender que a fotografia nos devolve, perante o nosso olhar percetivo a transposição ao passado e, dai que a consideramos como uma referência na memória histórica, entre outros suportes mais recentes para a imagem, com valor técnico e capacidade de descodificação das imagens e narração visual; constitui um instrumento para a memoria enquanto objeto de análise e, deste modo converte-se numa fonte visual sugestiva e privilegiada para a História da Educação, nas aceções que o investigador considere mais convenientes e válidas para os estudos historiográficos.
Nesta comunicação realizaremos uma análise hermenêutica sobre a fotografia, como fonte visual, enquadrada nas metodologias qualitativas de investigação histórico-documental e/ou histórico-educativa, de demonstrar que é uma fonte essencial para a memória. Dividimos a nossa argumentação em três pontos fundamentais, utilizando como ilustração e explicação, algumas fotografias relacionadas com a infância (e a ‘outra infância’ diferente e diferenciada da dita normal, escolarizada e normalizada), instituições educativas e momentos de ensino. a tríade de pintos de análise são: fotografia como fonte de informação (histórica); fotografia na (re) construção da memória; fotografia na metodologia da h.ª da educação. Demonstraremos que a fotografia, como momento de memória visual, como fonte de investigação (qualitativa), fonte de informação, registo de instantes ou momentos e contributo para a História e História da Educação. A fotografia configurou todo um universo visual que tem influenciado em certos aspetos a historiografia (educativa e documental), gerando uma maneira percetiva de conceber o mundo que modificou o conhecimento do mesmo, e principalmente muda o olhar que temos ou tivemos da realidade. Paralelamente à natureza do nosso olhar (perceção) vamos descobrindo pelo ato fotográfico o que expressa e inclusive altera a nossa visão originária da imagem que acarreta visualmente.
A palestra começa por referir os níveis teóricos da Animação Sociocultural (ASC). Em seguida o autor aborda a concetualização da animação sociocultural e/ou socioeducativa, que exigem a compreensão dos referentes paradigmáticos em que se inserem ao nível da prática. A ASC pretende a transformação dos indivíduos e da sociedade, através da socialização e, por isso tem um papel importante ao nível do processo educativo do aluno. Analisa-se a dimensão educativa da ASC, nos seguintes aspetos: âmbito da educação não-formal e educação geracional, destacando os novos espaços e novas identidades (cidadania ativa, participativa); a interação e interatividade no ato educativo (educar ao longo da vida); os projetos solidários, participativos e colaborativos ao nível escolar e comunitário; a estrutura de uma sociedade e um ambiente sustentável; a Nova democracia sociocultural (interações culturais e sociais) e os seus desafios. Por último destaca-se ao nível prático a integração da ASC na escola, pois facilita que os seus espaços sejam de desenvolvimento comunitário, dinamizando e recreando (pela atividades lúdicas e recreativas) o potencial cultural e patrimonial do território local e, simultaneamente, favorece a ação escolar e a inovação pedagógica.
A comunicação trata da pedagogia jesuítica ministrada no Colégio de S. Fiel (período de administração pelos jesuítas), instalado na freguesia do Louriçal do Campo, pertencente ao concelho de S. Vicente da Beira (extinto em 1895) e, depois ao de Castelo Branco, que sucedeu ao ´Orfanato/Seminário para Meninos Órfãos’ (1850-1862), criado por Frei Agostinho de Anunciação (José Bento Ribeiro Gaspar). Abordamos o ensino do ‘Colégio de S. Fiel, que vai desde 1863 até ao encerramento em 1910, destacando-se a data de 1873 de compra ‘oficial’ do edifício (escritura) a Frei Agostinho da Anunciação por parte de três jesuítas estrangeiros. Baseado numa metodologia hermenêutica, no contexto histórico-educativo da época, estabelecemos uma tríade de propósitos/objetivos: Análise evolutiva, em termos arquitetónicos, ao edifício e ao seu conjunto de espaços da instituição, que coincide com muita procura de alunos, a concessão de fundos/legados de benfeitores; Análise à cultura educativa do Colégio de S. Fiel, especialmente à sua estrutura de organização escolar, à metodologia de ensino e atividades (curriculares, extracurriculares) numa reconstrução da sua memória educativa. O colégio notabilizou-se na época como um dos mais reconhecidos estabelecimentos de ensino secundário de elite, a par do Colégio de Campolide (1854). Todo este processo de análise historiográfica leva-nos a compreender aquele estabelecimento dos jesuítas, no contexto da época, a sua regulamentação/governação e metodologia de ensino o que constitui um contributo para a História da Educação e/ou História das Instituições Educativas (particulares) em Portugal.
Abordamos a educação liberal boliviana (1899-1920) recorrendo a várias fontes (Achá, 1959; Bardina, 1917; Blanco Catacora, 1987; Finot, 1917; Kent, 1993; León, 2014; Martínez, 2010, Suárez, 1962), a periódicos (La Escuela Nueva, Estudios Bolívianos, Revista Pedagógica de la Escuela Normal de Sucre), a documentação e legislação boliviana (Anuários de Administração), às publicações de G. Rouma (1911, 1912, 1913, 1914, 1916 e 1920) e de Faria de Vasconcelos (1919), neste caso as ‘Obras Completas da Faria de Vasconcelos’ de J. F. Marques (1986, 2000, 2006, 2009) etc. Este marco teórico-conceptual permitiu-nos analisar hermenêuticamente a ação/intervenção de G. Rouma (1909-17) e de Faria de Vasconcelos na reforma educativa e formação e professores na Bolívia. A vida cultural e científica boliviana era escassa e, daí a propensão de aliciar emigrantes europeus e em especial as ‘Missões belgas’ de pedagogos. De facto, a situação dessa educação, as ideias e investigações (psico)pedagógicas, os estudos à criança boliviana por Rouma implicou a materialização dum modelo educativo ‘para a Bolívia e desde a Bolívia’ na base dos ideais da Escola Nova e novas pedagogias. A conceção básica da educação proposta por estes dois escolanovistas permitiu renovar e reestruturar o sistema educativo e criar e implementar as bases das escolas normais na formação de professores na Bolívia.
Casimiro Freire (1843-1918) foi um comerciante, industrial, filantropo e um apóstolo devotado pela instrução, no combate ao flagelo social do analfabetismo do povo. Foi dos primeiros propagandistas em Portugal do método do poeta João de Deus, do qual era admirador. Fiel simpatizante dos ideais republicanos, dedicou-se à causa da educação popular, suportando financeiramente diversas iniciativas de alfabetização, principalmente as da ‘Associação de Escolas Móveis pelo Método João de Deus - Bibliotecas Ambulantes e Jardins-Escolas’ (1908), liderada por João de Deus Ramos, filho do poeta da ‘Cartilha Maternal’. Casimiro Freire foi um filantropo defensor da instrução do povo (educação popular), no combate ao analfabetismo existente, na implementação das bibliotecas móveis públicas e pela criação da Associação das Escolas Móveis pelo Método João de Deus em instruir as crianças e promovendo a abertura de jardins-de infância pelo país.
Comunicação/Palestra no dia 8 de novembro no âmbito do Congresso Internacional “a Animação Sociocultural, território rural, património, turismo, envelhecimento e desenvolvimento comunitário: Estratégias, recursos e métodos de combate ao despovoamento" organizado pela Intervenção em Vinhais.
A peregrinação de António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1782) por grandes centros intelectuais da Europa e as suas influências estão bem evidentes nos seus escritos. Ribeiro Sanches considerava que a mocidade não era preparada para ser boa, nem para ser útil à Pátria e, por isso, divulga nas ‘Cartas para a Educação da Mocidade’ um conjunto de conhecimentos e uma civilidade (secularização), vinculada às intenções do Estado da época, com pressupostos filosóficos e científicos modernos, que fossem a base do ensino laico. Estes propósitos seriam propagados, tendo no subsídio literário (cobrança impostos) o modo de pagar aos professores e de modernizar o método de ensino baseado na lógica cartesiana. Em suma, há uma ressonância das ideias de Ribeiro Sanches com as várias iniciativas pombalinas, revelando que as ideias e as ações circulavam e se entrelaçavam na época e, daí a criação do Real Colégio dos Nobres (1766), da Real Escola Náutica do Porto (1762), da Real Mesa Censória (1768), organismo que superintendia o Diretor dos Estudos e, ainda, a criação da Junta de Providência Literária (1770). Para o médico pedagogo, as escolas deviam ser abertas e controladas pelo Estado, particularmente as de primeiras letras, onde se elaborasse um ‘catecismo da vida civil’ para ensinar às crianças as obrigações, valores, conhecimentos e condutas (havia castigos e prémios), através de livrinhos em português. Ou seja, o livro escolar servia para instruir comportamentos e ações para com os outros na vida social.
O Padre Manuel Antunes foi, sem dúvida, uma referência na Cultura portuguesa do seu tempo, um europeísta convicto, impregnado de um otimismo exacerbado no progresso que Portugal poderia ter nessa União europeia, ou seja, um pedagogo democrático que acreditava no poder da educação para esses avatares e na formação dos cidadãos. Os seus escritos, apresentam uma polissemia temática alargada ao integrar questões de Ética, Filosofia, Teologia, pluralismo político, crítica literária, Psicologia e Ciências da Educação (uma atenção especial para a reforma do ensino superior e para a educação permanente ou contínua). Analisou alguns problemas do europeísmo, do cosmopolitismo global, dos impactos da globalização na educação e na socialização das pessoas. O seu pensamento deu a possibilidade de que muitas gerações pudessem ver neste jesuíta um homem cheio de fé na melhoria do país e no elemento fulcral da educação, como geradora de consciências para uma sociedade cívica e solidária.
D. João Mª Pereira do Amaral e Pimentel (Oleiros, 1815; Angra 1889) foi um prelado renovador do ensino dos seminários, um homem de profunda sabedoria e delicado espírito científico e pedagógico, para além de ser caritativo com os mais desprotegidos e um grande apreciador das belas artes, pois essa sensibilidade transmitia-se nos seus tempos livres a plantar no seu jardim flores e a tratá-las com esmero. Em termos pedagógicos considera importante na formação do educando a educação intelectual (desenvolver a memória, a inteligência e o rigor no raciocínio), a educação moral (as virtudes e os valores humanos) e a educação física. Preocupa-se pela relação da educação com a civilização, considerando necessário nos seminários haver escolas normais de educação para que os padres, após o curso regular e superior, de modo a poderem aprender do mundo (pastoral social), como pessoas civilizadas e tendo igualmente a missão de educar para os valores e a cidadania. Na introdução da sua obra ‘Memorias da Villa de Oleiros e do seu concelho’ (Pimentel, 1881) cita a Virgílio na Eneida, dizendo: ’É provável que nos tempos vindouros seja agradável recordar estas coisas’ Deve-lhe a Diocese algumas iniciativas importantes, entre as quais a criação do Boletim Eclesiástico dos Açores, órgão oficial diocesano e primeiro do género no país, publicado pela primeira vez em setembro de 1872, hoje o mais antigo periódico com publicação ininterrupta nos Açores.
D. João de Oliveira Matos (1879-1962), bispo auxiliar da Guarda e em processo diocesano da Causa de Beatificação (Processo entregue em Roma, na Congregação da Causa dos Santos, em 1998), fundador da Liga dos Servos de Jesus (1924), que além fazer que os seus membros vivessem com generosidade e em ambiente familiar, dando-lhes formação, foi um prelado com grande espiritualidade que se dedicou aos pobres e desfavorecidos, como um ‘apostolo’ das causas sociais constituindo-se numa das grandes figuras da Igreja Diocesana Egitaniense. Fundou com Dr. Alberto Dinis da Fonseca o Instituto de S. Miguel no Outeiro onde acolheu, assistiu e deu formação (educação primária e aprendizagem oficinal) a muitas crianças e jovens de famílias numerosas e desfavorecidas economicamente. Em termos histórico-educativos a figura de D. João de Oliveira Matos é imensamente rica no âmbito da História da Assistência à Infância Abandonada e da pedagogia/educação social portuguesa, quer pelas suas iniciativas institucionais de acolhimento, assistência e educação, quer pelas ações sociais e socioeducativas em prol da juventude e na criação de Lares-escolas, quer na proteção de raparigas transviadas, quer numa pedagogia assistencial e terapêutica para os mais necessitados, na formação a auxiliares de serviço social na Liga. Uma das suas ações educativas de grande interesse historiográfico para a educação foi a obra Escola dos Gaiatos da Guarda, onde se forma(va)m pessoal e profissionalmente futuros homens válidos para a vida. A Obra dos Gaiatos destinada à recuperação moral dos rapazes pobres, órfãos, abandonados, vadios e indisciplinados tem um grande prestígio de tal modo que os seus ex-alunos formam hoje uma Associação que mantém os seus vínculos à Casa-mãe. O lema da sua obra social e educativa está na divisa - “É preciso que Jesus reine”, impregnou toda a sua obra realizada. Este Servo de Jesus, bispo, profeta e educador (social) dos mais desfavorecidos, esforçou-se por olhar para as realidades invisíveis, já que as realidade visíveis e terrenas eram para ele efémeras.
O debate conceptual na educação, relacionado com a diversidade cultural e a realidade multidimensional,
leva-nos a abordar a inter e multiculturalidade, sabendo que esta conceptualização está condicionada a
contextos e discursos. O estudo, de índole hermenêutico, ancora-se no fenómeno da diversidade cultural,
tendo como fulcro argumentativo a educação inter e multicultural. Pretendemos, por um lado, clarificar
conceptualmente esses termos relacionados com as identidades e diferenças culturais e, por outro lado,
analisar as respostas educativas capazes de conjugar as culturas (língua própria do território como língua
comum de relação entre os cidadãos, a diversidade cultural e linguística como riqueza, a educação cívica e a
identificação da igualdade de oportunidades), de modo a consolidar-se na escola uma educação para todos
e em valores e uma convivência tolerante e solidária na sociedade. O texto está dividido em três pontos de
abordagem: a dialética conceitual entre inter e multiculturalismo; as respostas educativas de intervenção à
inter e multiculturalidade; programas/modelos de implementação da educação inter e multicultural.
Pesquisa no âmbito do 'giro visual' na investigação em História da Educação (Social) e/ou História Social da Infância
O estudo aborda as percepções e as práticas (re)construídas, no contexto da história da educação social da ‘Outra Infância’ ou ‘Infâncias Outras’, na base de uma metodologia hermenêutica de análise e de argumentação histórico-descritiva. Ou seja, tratamos da representação social da infância portuguesa norteando-nos pelos seguintes objectivos: compreender as percepções inscritas nas fontes e documentos sobre a infância errante e em conflito social, no Portugal dos novecentos e séc. XX; conhecer a perceção e práticas da infância abandonada e errante naquele arco centúrio; compreender o contexto histórico social da percepção dos adultos e da sociedade em relação a essa infância errante, mendiga e desviante. Assim, partimos do enfoque sociológico e educativo, com influxos historiográficos e com argumentos das ciências médico-assistenciais e da educação, de modo a retratar as medidas, os dispositivos e os modelos de tratamento institucional no período ‘histórico’ de análise. Essa análise implica critérios de relações historiográficas e, por isso enquadra-se no ponto de vista da história da educação social, articulando-se com a história da educação e a história social da infância em Portugal, desenrolando-se à volta da infância e da juventude em situação de errância, de conflito social e de marginalização social, ou seja da ‘Outra Infância’ que não teve um percurso de normalização social e educativa.
A intergeracionalidade pretende aproximar as gerações entre si e gerar ações entre elas (Declaração Dortmund de 1999 e ONU, em Madrid de 2002), fazendo frente às alterações nas dinâmicas familiares, comunitárias, de convivência e relações. Sabemos que os benefícios geracionais são grandes, em termos de troca de experiências e de aprendizagem, na promoção da convivência, troca de experiências e saberes, no relacionamento e na criação redes sociais. Analisaremos a educação intergeracional ao nível da animação sociocultural, destacando o significado da educação ‘de’ e ‘com’ as pessoas diversas idades, ao papel da gerontagogia/gerontologia educacional nos adultos maiores numa sociedade para todos. De facto, é importante a gerontagogia no coletivo das pessoas maiores, articulando-a com a educação das crianças/jovens e adultos ativos, de modo a promover uma convivência/participação e uma solidariedade intergeracional. No âmbito da intervenção (intergeracional) da animação sociocultural e educativa analisar a função operacional dos planos intergeracionais, destacando o papel do animador, estando a nossa argumentação norteada em 4 pontos: a razão de ser da ‘educação dos adultos maiores’; valorização da proposta educativa da gerontagogia ao envelhecimento, a sua relação com as ciências da educação (educação social) e a alternativa à gerontologia educativa; a aprendizagem e a educação dos adultos maiores na cadeia intergeracional para uma ‘sociedade para todas as idades e/ou gerações’, baseada na solidariedade geracional.
The author consider the role played by Faria de Vasconcelos in the construction of modern pedagogy, materialized in the School of Bierges (Belgium) ex perience, and the special education with school ‘abnormal’ children. Using her meneutic and historical-descriptive analysis on his pedagogical thought and action, the goals of this chapter are to deepen the experience with Bierges, integrated into the ideals of the new school, which involved students for inclusion, the power of initiative, observation, experimentation and integral culture, associating thought-action; to analyze the contributions to the education of pedagogical abnormal’ children and to schools, from mental and pedagogical reeducation. Teaching always included practical application, learning by inquiry, problem solving and working by doing, developing the basic dimensions of the child: physical, intellectual, moral and civic cooperation. This special attention given to the ‘abnormals’, who at the time had no special school, was a huge contribution to special education, conducting psych pedagogical examinations, diagnostics and interventions, which provided a useful guidance to schools and teachers. The proposals of A.S. Faria de Vasconcelos fit some guidelines of special education and psychological support.
A ideia de morte e perdas da perspectiva de idosos institucionalizados implicam questões quanto à finalidade da vida. A seguinte pesquisa aborda a percepção quanto à morte e à morte do outro em idosos de 2 lares residenciais (N=35). De metodologia mista (predominância qualitativa) e teor exploratório (analítico, descritivo e interpretativa), transversal e fenomenológico, inserida no Projeto Gerontológico do mestrado, os dados coletados baseiam-se na Escala Breve Perspectivas da Morte, Escala Geriátrica de Depressão de Yesavage; entrevistas semiestruturadas aos idosos; observação participante; notas campo. Utilizamos como tratamento de dados a triangulação. Resultados confirmam que as perspectivas da morte e morte do outro têm relação com o sentido de vida do idoso, ambiente institucional e vivências (medo, dor, sofrimento, isolamento), podendo desencadear em alguns deles sentimentos negativos/depressivos.
Sabemos que o Património é o conjunto de bens, materiais e imateriais, que são considerados de interesse coletivo, suficientemente relevantes para a perpetuação no tempo. Aquele conceito faz-nos recordar o passado e, por isso, é uma manifestação, um testemunho, uma invocação, ou melhor, uma convocação do passado.
O património tem com a identidade inúmeras e variadas relações. Como atributo coletivo, o património é um elemento fundamental na construção da identidade social/cultural e, simultaneamente, é a própria materialização da identidade de um grupo/sociedade. Tem, portanto, a função de (re)memorar acontecimentos mais importantes; daí a relação com o conceito de memória [social]. É este conceito de memória social que legitima a identidade de um grupo, recorrendo, para isso, do património.
Educar para e no património cultural equivale atualmente, nos contextos sociais, políticos e educativos uma grande complexidade, já que esta vertente educativa insere-se na dimensão de formação para a cidadania democrática. Não se trata de ensinar arquivos documentais, acervos históricos e culturais para proporcionar conhecimento sobre o passado, o respeito patrimonial, a difusão e proteção, mas também procurar a promoção de sujeitos na sociedade com atitudes críticas, capazes de refletir, investigar com técnicas adequadas, valorizar e comprometer-se com a sua cultura e património, num enriquecimento da própria identidade a que pertencemos.
Abordaremos neste texto quatro pontos essenciais; a fundamentação das conceções de património, identidade e memória; a relação da tríade de património (cultural) com a memória (social) e identidades; a relação entre educação patrimonial e o património cultural. Há toda uma necessidade de desenvolver intervenções e ações interdisciplinares na política de educação patrimonial, na investigação historiográfica sobre o património (cultural e histórico) e na divulgação desses estudos, já que o património sendo uma herança produzido pelo homem em sociedade é também uma parte integrante da formação humana.
O artigo pretende ser um contributo à história das instituições educativas em Portugal, ao analisar os
espaços escolares no Colégio de São Fiel dos jesuítas (1863-1910), de ensino elementar e secundário.
A nossa argumentação, de teor histórico-descritivo e hermenêutico, versa sobre a organização escolar
(os espaços e o tempo escolar) naquele colégio e as suas relações e implicações na vida e no processo
educativo dos alunos colegiais. A análise está dividida em 4 pontos: o ensino jesuítico nos colégios
(características); os espaços escolares no pensamento e ação dos jesuítas; a organização escolar no
Colégio; arquitetura do tempo escolar como categoria estruturante na vida do colégio. Estes pontos
permitem-nos compreender o funcionamento organizacional daquele colégio, convertendo-o num
património histórico-educativo e num lugar de memória socio-histórica.
Abordamos a animação sociocultural como promotora da satisfação e qualidade de vida no processo de envelhecimento de 68 idosos, de 5 centros de dia rurais, na região de Castelo Branco (Portugal). Foi um estudo de metodologia qualitativa, longitudinal, descritivo, analítico e interpretativo, no ano de 2015-16. Nortearam-se os seguintes objetivos: Promover o nível de satisfação com atividades culturais; Desenvovler relações de convivência e autoestima; Melhorar o clima social institucional. Utilizámos como técnicas de recolha de dados as entrevistas (semiestrtuturadas) e observações participantes (registos em notas de campo) aos idosos, aos responsáveis e técnicos das instituções, para além da análise às variáveis sociodemográficas de caraterização dos sujeitos intervenientes. Aplicámos aos idosos um Programa de Atividades de Animação Sociocultural para melhorar o seu estado de ânimo, as suas relações interpessoais, a convivência institucional e a qualidade de vida. Compreendemos a realidade social destes sujeitos, analisando as suas necessidades e exigências e promovemos a sua participação no programa de atividades. Este Programa foi autoavaliado pelos protagonistas e responsáveis e técnicos dos centros de dia. Os resultados demonstraram o que os estudos teórico-práticos confirmam: a qualidade de vida aumenta à medida que os idosos realizam tarefas e atividades socioculturais periódicas de que gostam e são protagonistas. Houve uma melhoria na autoestima, na satisfação com a vida e no clima social e institucional, através da animação sociocultural.
A sociedade encontra-se num processo acelerado de transformações e um dos aspetos demográficos é a existência de uma população envelhecida pouco participativa e estereotipada por outras gerações. O enfoque intergeracional tem na realidade de muitos países uma forma díspar de concretização, com resultados pouco difundidos e no caso português com grande escassez de estudos. O papeld a educação intergeracional pretende que os educandos se convertem em responsáveis da sua própria aprendizagem, que sejam partícipes nas atividades de intercâmbio de experiências e pontos de vista de umas gerações com as outras, de modo a conseguir-se um desenvolviemnto pessoal, grupal e familiar. trataremos de abordar o enfoque intergeracional desde a educação e tendo como desafio o papel da animação sociocultural e/ou socioeducativa no momento de gerar relações intergeracionais, entre jovens, adultos e adultos maiores. De facto, o objetivo do estudo é indagar sobre o impacto dos programas intergeracionais e, em especial da educação intergeracional, nos participantes e agentes implicados na convivência e relação (inter)geracional. Tudo isto é fundamental para podermos responder aos desafios da sociedade atual, que deve promover relações e a solidariedade entre gerações. Iremos abordar 4 pontos na nossa argumentação: como promover e avançar para a participação social das pessoas adultas maiores através dos Programas (Educação) Intergeracional; analiaremos as boas práticas de intervenção que têm sido feitas no desenvolvimento gerontológico (programas d eintervenção dirigidos aos adultos maiores); analsiar o enfoque da educação intergeracional como um novo desafio formativo na sociedade atual; impulsar e implementar os Programas Inetrgeracionais para todas as idades/gerações tendo na animação sociocultural um aliado fundamental.
O pedagogo e psicólogo Faria de Vasconcelos (1880-1939) foi considerado um dos melhores da Europa (baluarte da Escola Nova), realizando imensos estudos experimentais de psicologia escolar e pedagogia. A publicação das Obras Completas de Faria de Vasconcelos pela Fundação Calouste Gulbenkian pelo professor J. Ferreira Marques (1986, 2000, 2009) constitui um contributo de inestimável valor para a cultura e pedagogia portuguesa. O método pedagógico defendido por Faria de Vasconcelos opunha-se ao enciclopedismo e aos princípios da escola tradicional e, por isso na sua ansia de transformar a educação num processo educativo ativo, centraliza os seus ideias nos interesses do aluno, que participa no seu próprio plano de desenvolvimento pessoal, social (profissional) para a autonomia com liberdade e responsabilidade. O conhecimento do aluno provinha da observação e da experiência, de modo a criar hábitos de trabalho, pensamento crítico e de procura científica. Faria de Vasconcelos atribui importância fundamental ao ambiente em que a educação se processa, ao meio em que o educando se desenvolve. Por isso insiste que o ensino deve provir da própria vida, a partir da realidade concreta, ligar-se ao mundo da experiência e da representação da criança, da maneira de ver infantil e dos interesses do aluno, que o educador deve respeitar as leis do desenvolvimento psicológico da infância. A libertação da criança é a palavra de ordem da pedagogia nova e inscreve-se na linha da emancipação geral do homem. Neste processo, Faria de Vasconcelos deposita confiança nos educandos, na aptidão para se formarem partindo deles mesmos (vocação) e no respeito pela sua natureza. Por isso defendeu a educação baseada nas tendências, usando «métodos ativos», uma educação genética e diferenciada. A educação é o centro das suas preocupações psicopedagógicas, sempre unida a interesses e compromissos políticos, num comportamento que nunca apresenta contornos partidários. Diga-se o que se disser deste pedagogista português, das suas ideias, das suas realizações, ou dos seus discursos pedagógicos, a verdade é que, da sua rica personalidade foram deixados traços marcantes na sua extensa obra escrita. Conhecedor invulgar do que a nível internacional se passava no campo da educação, desenvolveu entre nós uma intensa obra de divulgação dos novos ideais educativos e dos novos planos de ação didática e formação de professores.
Para além das iniciativas de eventos, publicações científicas e referências em enciclopédias ou dicionários nacionais e internacionais, etc. de faria de Vasconcelos, muitos investigadores e historiadores analisaram e interpretaram o seu pensamento, no âmbito histórico-educativo, psicopedagógico e filosófico-pedagógico, publicando alguns artigos científicos, por exemplo citamos: Aires Nunes Diniz, António Nóvoa, Carlos Meireles Coelho, Ernesto C. Martins, J. Ferreira Marques, José Marques Fernandes, Joaquim Ferreira Gomes9, Manuel Ferreira Patrício, Rogério Fernandes, Teresa Machado, entre muitos outros. Também foram realizados trabalhos académicos, em diversas universidades portuguesas, não tantos como se poderia prever (6 teses de mestrado e 3 doutoramentos, até ao momento), que fizeram manter alguma chama viva de interesse por este pedagogista da História da Educação ou História das Ideias Pedagógicas. Haverá que referir de forma pontual alguns certames científicos sobre o nosso escolanovista, muitos deles não temos conhecimento, mas destacamos, por exemplo, o Colóquio de 2013 no Museu Bernardino Machado de Famalicão, onde foi analisado pela palavra especializada dos professores António Nóvoa e de José Marques Fernandes.
António Faria de Vasconcelos (1880-1939) frequentou a escola primária em Castelo Branco e, posteriormente o Colégio do Espírito Santo em Braga, dos missionários franceses, seguindo, posteriormente, tal como o pai (juiz), para a formação em direito na Universidade de Coimbra. É nesta Lusa Atenas onde lhe nasce uma certa atração pelas questões e preocupações do social (influência do darwinismo social), associando-o ao vetor educativo/cultural da vida quotidiana das pessoas. Enveredando pela parte pedagógica, amplia a sua formação em Bruxelas (Universidade Nova - Escola Livre Internacional de Ensino Superior, a partir de 1902), conhecendo vários pedagogos e/ou psicopedagogos europeus, acabando por ser professor no Instituto de Altos Estudos (1904 - 1914), daquela universidade belga, lecionando a disciplina ‘Psicologia e Pedagogia’. Entre 1912-14 realizou em Biérges-Lez-Wawre (Bruxelas), uma experiência escolanovista, uma das mais perfeitas ‘escola nova do mundo’, ao intentar materializar o modelo proposto pelo Bureau International dês Écoles Nouvelles, aplicando 28 dos 30 caracteres definidos por aquele organismo. Imbuído pelos ideais pedagógicos da época (Decroly, Montessori, Dewey, W. James) e influenciado por Rousseau, Pestalozzi e Fröebel (e até Herbart), empenhou-se na expansão do Movimento da Escola Nova, que tinha em Genebra o seu núcleo mais ativo (Instituto Jean-Jacques Rousseau e a ‘Maison des Petit’), onde se destacavam as figuras de E. Claparède, A. Ferrière (Diretor do Bureau International) e P. Bovet. De facto, sem ser um político, mas sim um cientista do ‘social e do cultural’, considerava que o progresso e as reformas, em qualquer país, só se podiam fazer pela educação, no sentido de uma socialização e sociabilidade, com pessoal técnico qualificado, incluindo os professores e com uma orientação (pessoal, escolar profissional) no processo educativo dos educandos. Integrou as ‘Missões belgas’ de criação e renovação dos sistemas educativos, em regimes liberais de países na América Latina e, daí ter-se deslocado para Cuba (1915-17) e, posteriormente, para a Bolívia (1917-20), nessa divulgação das experiências da Escola Nova e dos ideais da pedagogia moderna, dedicando-se à organização das escolas normais de formação de professores, nesses países.
António Faria de Vasconcelos (1880-1939) foi abordado por vários estudos psico) pedagógicos, por exemplo: em 1969,a Revista Estudos de Castelo Branco publicou um Monográfico de artigos, com vários depoimentos de conterrâneos e amigos ao seu itinerário bibliográfico e análise à sua obra e pensamento; a Homenagem efetuada em Castelo Branco, por um grupo de cidadãos albicastrenses e Câmara Municipal, em 1980, com o descerrar de uma placa alusiva ao Centenário do seu Nascimento, na casa onde nasceu; a atribuição de uma rua com o seu nome onde está instalada a Escola Superior de Educação; a designação de uma Escola Básica com o seu nome, pertencente atualmente ao Agrupamento de Escola Nuno Álvares de Castelo Branco; etc. Como acesso e, posterior cedência, ao espólio documental com escritos inéditos, concedido pela esposa D. Celsa Camacho Quiroga, coube ao professor J. Ferreira Marques da Universidade de Lisboa, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian (e de Azeredo Perdigão, amigo e companheiro de Faria de Vasconcelos na Seara Nova), realizar um trabalho meritório de investigação, ao analisar e recompilar os seus escritosem7 volumes, designados por ‘Obras Completas de Faria de Vasconcelos’, desde 1986 a 2012 (ordem cronológica de sistematização dos artigos e publicações dispersas do autor), constituindo um marco referencial histórico-documental e educativo de grande valor historiográfico. Nesse processo de resgate e de recolha do espólio, teve grande preponderância a ação do Instituto de História da Educação, atualmente inserido no Arquivo da Secretaria de Estado da Educação, com destaque para o papel e esforço de António Sampaio da Nóvoa ao constituir e elaborar esse arquivo, de modo a colocá-lo à disposição de investigadores e historiadores. Em 2015 o professor Carlos Meireles Coelho, da Universidade de Aveiro, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia traduziu e analisou, a obra ‘L’École Nouvelle en Belgique’ (1915), acrescentando um leque de anotações educativas, estando essa publicação disponível, em acesso aberto (E-book) à comunidade educativa
António faria de Vasconcelos (1880-1939) promoveu muitas iniciativas pedagógicas e educativas, para além de várias publicações, referências em enciclopédias ou dicionários nacionais e internacionais, conferências, etc., de tal modo que muitos investigadores e historiadores da educação analisaram e interpretaram o pensamento deste escolanovista, no âmbito histórico-educativo, psicopedagógico e filosófico-pedagógico, através de artigos científicos, por exemplo citamos: Joaquim Ferreira Gomes, Rogério Fernandes, Manuel Ferreira Patrício, António Nóvoa, José Marques Fernandes, J. Ferreira Marques, Carlos Meireles Coelho, Ernesto C. Martins, entre muitos outros. Também foram realizados alguns trabalhos académicos, em diversas universidades portuguesas, não tantos como se poderia prever (6 teses de mestrado e 3 doutoramentos até ao momento), que fizerem manter alguma chama viva de interesse por este (psico) pedagogista da História da Educação ou História das Ideias Pedagógicas. Haverá que referir de forma pontual alguns certames científicos sobre o nosso escolanovista, dos quais não temos conhecimento, mas destacamos, por exemplo o colóquio de 2013 no Museu Bernardino Machado de Famalicão, onde foi analisado pela palavra especializada dos professores António Nóvoa e de José Marques Fernandes. Mesmo com todos esses estudos e iniciativas a sua cidade natal pouco fez para reconhecer e enaltecer esta grande figura da História da Educação e/ou da Psicologia em Portugal com uma dimensão europeia e latino-americana, na contemporaneidade
Abordamos o escolanovista português, Faria de Vasconcelos (1880-1939), que foi uma figura pedagógica incontornável do Movimento da Escola Nova, no âmbito dos seus contributos às crianças anormais. O arco histórico percorre as primeiras décadas do séc. XX, período onde apenas existia para as crianças anormais o Instituto Médico-Pedagógico, Colónia Agrícola S. Bernardino e Instituto Médico-Pedagógico ‘Florinhas da Rua’.
Norteamo-nos por um argumento analítico e hermenêutico, sob uma metodologia historico-descritiva
ocumental, cujo corpus teórico-conceptual assenta nas fontes primárias deste pedagogo e das ‘Obras Completas’, reunidas e analisadas por Ferreira Marques; espólios de arquivos e monografia do Instituto de Reeducação Mental e Pedagógico; e nas fontes secundárias existentes em várias bibliotecas, revistas e dissertações académicas. Centralizamo-nos nas ações, ideias e experiências de Faria de Vasconcelos na educação nova e na educação especial. Os objetivos são: analisar a difusão e influências do Movimento da Educação Nova, no contexto português da época; analisar as ideias sobre a educação das crianças ‘anormais’ (retardadas/atrasadas escolarmente) neste escolanovista e o impacto da Proposta de Lei de João Camoesas (1923), assim como a sua ação tida no Instituto de Reeducação Mental e Pedagógica (1929-31). A educação das crianças ditas ‘anormais’ foram psicopedagogicamente um dos temas centrais de Faria de Vasconcelos que pretendia uma educação integral (inclusiva). Os seus contributos psicopedagógicos, como escolanovista e, em especial, à educação das crianças ‘anormais’ foram importantes, especialmente a criação do Instituto e, por isso, constitui um dos maiores vultos da História da Educação em Portugal, de grande prestígio europeu e na Latino-América.
O nosso intuito de analisar a vida, a obra, a ação e o pensamento de António Sena Faria de Vasconcelos foi o de trazê-lo até aos nossos dias para analisar e refletir esta grande figura do campo da Pedagogia e da Psicologia. O nosso pedagogo escolanovista promoveu ao longo de todo o seu percurso de vida pelo assentamento da organização social e pela organização da educação (reforma do ensino), pela orientação profisisonal, ensino dos 'anormais', pela formaçãod e professores de forma científica, praxiológica e reflexiva, ou seja nas suas ações manifestou uma atitude científico-pedagógica e psicopedagógica, incluindo a ação de práticas científicas (pedagogia de ação).
Se clarificarmos os termos à volta da reflexão filosófica sobre a educação aparece-nos, por exemplo, o termo 'filosofia de educação', em que o 'de' é um 'genitivo objetivo', que o faz emergir na filosofia, movimentando-o no âmbito das reflexões filosóficas concretas, desde uma perspetiva histórica, metodológica e sistemática. O seu objetivo é o de conhecer os aspetos filosóficos da educação, complementando o horizonte do saber filosófico-pedagógico e o da formação humana. Se entendermos o 'de' como um 'genitivo subjetivo' enveredamos por um tipo de ciência aplicada (técnica e arte de educar), em que a metodologia obriga a entrar no campo descritivo e empírico. O termo 'Filosofia educacional' pretende construir uma área das ciências da educação, com o objetivo de descobrir as caraterísticas científico-filosóficas de uma determinada conceção educativa. Há, pois interesse em esclarecer a existência de várias filosofias da educação, admitindo que essa diversidade, na ausência de clarificação conceptual sobre o núcleo da atividade prática que é a 'educação'. Nortearemos essa ausência de identidade da filosofia da educação em tr~es aspetos: realização de atividades inteletuais e de investigação dos filósofos da educação em âmbitos científicos diversificados; a identificação (conteúdos) dos âmbitos científicos epistemológicos sobre a educação, que nos faz orientar em termos do saber fazer para a teoria da educação e daí as diferenças entre 'filosofia da educação' e 'teoria da educação'; movimento generalizado de afirmação da ci~encia pedagógica atual com a vertente científico-tecnológica, em que se questiona o papel da filosofia da educação (recus), já que o saber da educação é um saber 'para' ao vincular-se na 'praxis'.
Trata-se de um estudo histórico-descritivo que aborda a educação especial às crianças surdas-mudas
no séc. XIX e começos do XX, em Portugal.
O seu marco conceptual assenta em fontes documentais e arquivísticas e de outras fontes secundárias no âmbito da História da Educação (Especial) sobre surdos. A nossa argumentação historiográfica, de teor hermenêutico (analítica) incide na educação, ações de ensino (métodos) aos surdos e nas iniciativas institucionais para essas pessoas com deficiência sensorial, ditas ‘anormais’ na época. O debate entre as técnicas de ensino aos surdos (oralismo, gestualismo), no âmbito de uma pedagogia diferenciada, acompanhou as tendências europeias divulgadas (métodos: francês e alemão).
Em oitocentos, criaram-se classes/aulas e instituições, com o apoio dos municípios e misericórdias (Lisboa, Porto) e de filantropos ou beneméritos, destacando-se o papel da Casa Pia de Lisboa, instituição pioneira na educação dos surdos-mudos. Os nossos objetivos são os seguintes: compreender a existência de uma
pedagogia nacional para os surdos (séc. XIX e parte do XX) e respetivas iniciativas educativas; analisar
os métodos ou técnicas de ensino (oralista, gestual) seguidos por alguns pedagogos em instituições;
compreender a organização de estudos do Real Instituto para surdos-mudos da Casa Pia e as principais características de aprendizagem. Este retrospecto histórico sobre educação da surdez intenta configurar práticas, orientações metodológicas e propostas educacionais, algumas diferentes, que desenvolveram muitas capacidades nos surdos, apesar de limitações. Toda esta visão historiográfica feita em 4 pontos do texto permitiu conhecer os caminhos percorridos pela comunidade surda, as suas dificuldades e lutas e as formas de intervenção.
Pedro Maria Aguilar (1828?-1879) foi um pedagogo religioso dedicado ao ensino da surdez. Este sacerdote, nascido em Pinhel, foi capelão, professor de moral e bibliotecário na Escola Normal de Marvila (Lisboa), desenvolvendo nesse período as suas leituras e investigações na área da educação especial (domínio dos surdos-mudos), engrandecendo a pedagogia diferencial no ensino. Fundou Instituto de Surdos-Mudos em Guimarães (1870), que viria a encerrar por falta de recursos financeiros. Em 1877, recebe um subsídio da Câmara Municipal e funda Instituto de Surdos-Mudos do Porto, extinto em 1887, sob as ordens do seu sobrinho, Eliseu Aguilar. Analisaremos, de forma hermenêutica e reflexiva, os contributos deste educador, no âmbito da educação especial e pedagogia diferenciada. Utilizámos várias fontes primárias (arquivos, centros de documentação) e secundárias. Padre Aguilar foi um pedagogo, de pouca obra escrita, que aprofundou o método de ensino dos sinais metódicos e perfilou métodos intuitivos nesse ensino relevantes na época.
A Modernidade apresentou o pensamento, as formas de vida, as manifestações éticas e estéticas, propostas culturais, etc. do liberalismo (económico) e sociedade burguesa, não sendo mais que uma estratégia do antigo regime para estar vigente. Neste sentido iremos refletir sobre a modernidade, desde do contexto da dita 'Pós-modernidade', relativamente à situação da filosofia (crise?) e a sua relação com as outras formas de interpretar a realidade (social, educativa) nas sociedades democráticas, em especial os problemas éticos. esta análise hermenêutica e analógica assenta em três aspetos: da 'ética da certeza e dever ser' à ética da incerteza e do relativismo, tendo em conta a 'genealogia moral' de Nietzche e a posição tomista da Enciclica de Leão XIII - Aeterni Patris; as mudanças no âmbito educativo e cultural produzidas pela globalização, mundialização e novas economias -sociedades avançadas, que ao gerarem novos fenómenos implicam novas estruturas sistémicas e uma nova cultura; o aumento do investimento científico-tecnológico e a crítica à modernidade com o aparecimento das novas tecnologias e a sua repercussão na educação e formação.
Assistimos a um momento histórico-educativo em que há necessidade de rever/reanalisar os instrumentos e os discursos pelos quais conhecemos e descrevemos/explicamos o 'educativo' ou a realidade educativa e/ou pedagógica, nos seus contextos, já que desde a ciência da complexidade existe uma conexão com a complexidade social. A teoria sociológica contemporânea analisou a realidade social desde perspetivas opostas (sistema; mundo de vida) originaram conceções, relações e argumentos (pré)predicativos. Acreditamos na educação como charneira do desenvolviemnto e da inovação para a formação do capital humano, produção de conhecimento e investimento no(s) saber(es). Hermenêuticamente assentamos os nossos argumentos (epistemológicos) nos novos referentes que surgiram e que implicam uma complexidade educativa (e social), fruto dos novos fenómenos, da identificação de novos atores e sujeitos coletivos, da diversidade cultural e étnica, da articulação do público e do privado, da irrupção do educativo fora do contexto formal, novas metodologias de análise nas ciências da educação, na mudança de paradigmas, dos impactos das novas tecnologias, etc. Asi, o nosso quadro conceptual norteia-se pela visão de N. Luhmann, das teorias dos sistemas sociais, da ciência da complexidade (E. Morin, Rosnay, Bhom) e da contingência e do enfoque sistémico da educação.
Este capítulo aborda o pensamento de J. Habermas, no contexto das Ciências Sociais e Humanas relativamente aos problemas centrais da Humanidade. A nossa análsie assenta em três ideias fundamentais sobre Habermas: A teoria da ação comunicativa - o agir comunicacional no ser humano; a defesa da exist~encia de uma esfera pública, na qual os cidadãos, livres do domínio político, podem expor e discutir as ideias - reflexão filosófica participativa; apreciação à ideia de qua as ciências naturais seguem uma lógica objetiva, enquanto as ciências humanas seguem uma lógica interpretativa. Em síntese o núcleo da nossa análise filosófica reside nos interesses do conhecimento, tendo em conta o conceito de 'interesses' do filósofo de Frankfurt.
É nossa intenção indagar sobre algumas questões educativas e pedagógicas existentes no contexto atual da globalização, da relação 'ciências-tecnologias-educação', da complexidade e incertezas sobre o educar do ser humano na base da função economicista e tecnológica em detrimento da vertente formativa humanista, axiológica e ética (convivência). Assim, o nosso argumento reflexivo norteia-se pela seguinte pergunta de partida: Que tipo de saber é o educativo? Esta questão insere-se no questionamento sobre o saber educativo 'dado' nas escolas, em que as bases teórico-prático em que construímos o conhecimento educativo e/ou pedagógico deve ser revista e/ou criticada, face às incertezes, complexidade, contingências e desordens das ideias na educação no âmbito da sociedade do conhecimento e globalização. Partimos a nossa análise hermenêutica na reconstrução (paradigma emergente) das ideias e teorias pedagógicas existentes, dando-lhe uma nova ordem adaptativa às exig~encias das situações de prática educativa/pedagógica e da formação humana (bildung).
Iremos abordar a educação para as emoções que implica o desenvolvimento de competências emocionais, constituindo um processo contínuo que potencializa o desenvolvimento de competências e habilidades, sendo um elemento essencial para a vida dos seres humano, de modo a incrementar bem-estar pessoal e social. Trataremos da aplicação de um programa de Inteligência Emocional (PIE) nas escolas do 1.º CEB na região de Castelo Branco, inserido no Programa Transfronteiriço de Aprendizagem de habilidades emocionais na educação Básica, estabelecido entre o Instituto Politécnico e a Universidade de Extremadura/Faculdade de Educação (Badajoz), realizado entre 2011-2017. Estruturamos em 6 pontos a palestra/Workshop que, para além das Ideias (conclusivas) e a bibliografia, coincidem com os objetivos estabelecidos: analisar questões de conceptualização relacionado com emoções, competências, habilidades socio-emocionais e aprendizagem social e emocional; promover a relevância da educação para as emoções; descrever a estrutura do PIE; explicar a aplicabilidade e execução do PIE em turmas do 1.º CEB; analisar os efeitos do PI nos intervenientes e protagonistas; avaliar globalmente a eficácia do PIE. O PIE desenvolveu várias competências e habilidades nos alunos, levando-os a conhecerem as suas emoções e a dos outros, a saberem geri-las e controlá-las nas situações educativas, ou seja, tudo isto implicou melhoria no desempenho e rendimento escolar dos alunos do 3.º e 4.º ano do 1.º CEB.
Trata-se de um estudo histórico-descritivo, de teor hermenêutico, construído na base da literatura e escritos da época sobre a conceção social da criança e da sua infância, com recurso a designações, nomenclaturas ou adjetivações nos dicionários e discursos científicos (médico-higienistas, jurídico-legais, pedagógicos) e político-ideológicos, no período do séc. XIX até 1930. Em especial, abordaremos a ‘Outra’ infância, a qual a classificamos como infância diferenciada da dita normal por estar à margem da normalização e escolarização imposta pela sociedade. Norteamo-nos por uma tríade de objetivos, que correspondem aos pontos de abordagem: compreender a designação referencial etimológica dos termos criança-infância (dicionários) articulada com a linguagem discursiva científica da época; explicar as diversas conceções e termos afins que integra a ‘Outra Infância’ por nós utilizada; conhecer o significado das categorias de menor estabelecidas na Lei de Proteção à Infância, de 1911 em sintonia com as medidas tutelares de proteção.
O estudo trata de arquitetura e espaços escolares, numa análise histórica-educativa, no período do séc. XIX e parte do séc. XX. O marco teórico-conceptual assenta em alguns estudos especialmente de Alegre, Barroso, Benito Escolano, Burke, Carvalho e Viñao Frago, que nos leva a utilizar uma metodologia hermenêutica ancorada ao âmbito da História da Educação ou História das Instituições Educativas. Temos como objetivos: analisar o espaço escolar como lugar; compreender o espaço escolar como elemento intrínseco ao quotidiano da escola. Temos 3 pontos de análise: espaço como elemento crucial da relação arquitetura escolar-educação; espaço escolar como lugar e território da materialidade física; organização educativa, a classe e estruturação do tempo escolar. A discussão, interpretação e releitura do espaço escolar focaliza os projetos arquitetônicos de cada época.
O artigo norteia-se pelos seguintes objetivos, na base de uma metodologia
hermenêutica (analítica) que coincide com os pontos estruturais do texto: Analisar os
indícios/vestígios da realidade atual e o reto da educação social; Clarificar conceptual e
semanticamente a pedagogia social e educação social, no âmbito das Ciências da Educação;
Compreender a (inter)relação entre a pedagogia social (âmbito teórico) e a educação social
(âmbito prático), especialmente a prática da ação pedagógico-social do educador social na
comunidade; Aprofundar a pedagogia social e educação social no contexto da intervenção
social escolar. Servimo-nos de um quadro teórico-conceptual norteado por um conjunto de
estudos de especialistas sobre a pedagogia social e educação social, que nos levaram a
aprofundar estes conceitos nos novos espaços e tempos atuais da sociedade em geral. Os
espaços e tempos na atualidade marcam a Pedagogia no âmbito social, seja ao nível escolar e
não-escolar. Sabemos que a globalização fez proliferar ‘espaço e tempo’ no aprender e nas
formas de conviver, com novas caraterísticas e áreas de ação ou intervenção. Pretendemos que
a educação social inclua uma série de caraterísticas de intervenção, relacionadas com áreas
específicas que são hoje fundamentais, para além daquelas que a sua evolução e identidade têm
abarcado, por exemplo: educação escolar de adultos, gerontológica e intergeracional; o
empreendedorismo social; a educação ambiental e ecológica; a gestão e promoção da cultura,
do patrimônio e do turismo ecológico/rural; os imigrantes, os refugiados e os grupos étnicos; a
promoção da mulher; a mediação (escolar, social), etc
Comunicação no XXX Congresso Internacional da AFIRSE Prrtugal no IE da Universidade de Lisboa, no dia 26 de janeiro de 2023 no Painel do 3 Eixo temático - espaços Educativos e Atores.
Pretendemos abordar pedagogo português Faria de Vasconcelos (1880-1939) no contexto da Escola Nova, norteando-nos por uma pesquisa de metodologia hermenêutica na análise aos seus pressupostos pedagógicos sobre os problemas escolares e, principalmente a sua preocupação pela adolescência e jovens delinquentes, infratores e/ou indisciplinados. Recorremos conceptualmente aos seus textos (fontes primárias) e à sua obra compilada por Ferreira Marques, a fontes secundárias sobre Escola Nova e História da Educação em Portugal da época. O método hermenêutico permitiu-nos compreender os escritos daquele pedagogista, na frágua da temática, quer pelo questionamento, quer pelo alicerçar dessa compreensão sobre (análise) o conteúdo a interpretar. Ou seja, a hermenêutica sendo a palavra, em que a correspondente interpretação vem sempre do texto, converteu-se em mediadora desse processo interpretativo. Os objetivos foram os seguintes: analisar os contributos de Vasconcelos ao estudo científico da criança/infância, em especial no seu desenvolvimento físico e mental, sob a influência da Escola Nova; compreender a sua análise à adolescência e delinquência juvenil, na relação que estabeleceu entre a inteligência (percentagens de deficiências mentais) e tipos de delitos/crimes cometidos. Pretendemos resgatar este pedagogo para a História da Educação em Portugal, divulgando os seus contributos em prole do estudo da criança, da adolescência e jovem delinquente.
A problemática da assistência e educação às crianças pobres, abandonadas ou desvalidas, designadas por
‘Outra infância’, apresentou diferentes enfoques de análise e diferentes discursos, que tiveram respostas sociais (políticas), segundo o período histórico abordado (século XIX e parte do século XX). O propósito historiográfico norteia-se pela assistência educativa e protetiva àquele tipo de infância. Recorremos a fontes documentais, à imprensa, a legislação, a teses e monografias de instituições, etc., que permitiram elaborar a argumentação, de índole hermenêutica, que é um método cujo campo de atuação envolve a compreensão e a profundidade dos aspetos subjetivos e objetivos de pesquisa. O quadro teórico-conceptual assenta numa base ampla de referências à proteção e assistência social, à economia social, aos dispositivos jurídicos, ao papel das instituições asilares de internamento, etc. A estrutura do estudo divide-se em 3 pontos: a representação social da infância e respetivas construções sociais; a assistência social regulada pelos dispositivos administrativos locais e a perspetiva das instituições de internação à infância desvalida.
O estudo histórico-educativo analisa conceções da criança/infância portuguesa existentes em dicionários e discursos júrídico-sociais e educativos, no período do séc. XIX e inícios do XX, com uma referência à ’outra infância’, aquela que se encontrava fora das normas ou à margem da sociedade. Norteados por uma metodologia hermenêutica analisaremos essas conceções, sabendo que não há uma só criança ou uma só infância, mas sim crianças/infâncias diferenciadas e transformadas pelas circunstâncias e imposições sociais de cada época. Os objetivos diluem-se nos três pontos do texto: compreender os significados etimológicos/conceções nos dicionários sobre a criança/infância; analisar a conceção e nomenclaturas da ‘outra infância’; aprofundar o sentido de ‘outra infância’ nos discursos jurídico-sociais e educativos sobre a sua proteção e as medidas de intervenção. A criança/infância são construções sociais pertencentes a um tempo sociohistórico e cultural e duma sociedade, que originaram enfoques e valorizações para a História (Social) da Infância ou da Educação.
Faria de Vasconcelos (1880-1939) foi um escolanovista com grande projeção na ciência pedagógica da época, ao estudar os problemas escolares dos anormais pedagógicos e deficientes. Dedicou parte da sua obra e ações sobre essa temática, refletindo e criando instituições para colmatar e resolver muitos desses problemas dos ‘anormais escolares’ e jovens na escolha da sua profissão, propondo métodos apropriados de intervenção, escolas especiais e especialização dos professores. A argumentação assenta numa metodologia
hermenêutica de análise às publicações daquele pedagogista e outras fontes da época norteando-nos pelos seguintes objetivos: compreender a perspetiva de Vasconcelos sobre a educação/ensino dos anormais escolares; analisar as ideias e ações deste pedagogo na pedagogia contemporânea e/ou da pedologia e enquadradas no Movimento da Escola Nova; aprofundar o seu papel no Instituto de Reeducação Mental Pedagógica (1929-32) dedicado a realizar exames e intervenções às crianças ‘anormais’ e outras ações paralelas. O período histórico de abordagem, percorre os inícios do séc. XX, coincidente com a permanência de Vasconcelos na Bélgica (1904-14) e, posteriormente a sua ação em Portugal (1925-32) dedicada às crianças ‘anormais pedagógicos’. A pedagogia especial sobre ‘anormais’ teve uma difusão de ideias psicopedagógicas, psiquiátricas e psicotécnica impregnando o pensamento e intervenções de Vasconcelos na sua obra.
O estudo de teor qualitativo (estudo de caso) aborda no seu escopo as emoções e
habilidades socioemocionais em alunos portugueses com dificuldades de aprendizagem
de duas escolas do ensino básico com aplicação de um programa. Os objetivos
foram: compreender como os alunos lidam com as emoções; analisar a relação das
dificuldades de aprendizagem com o estado emocional; valorizar a educação para
as emoções na escola; desenvolver inteligência emocional nos alunos. As técnicas
de recolha de dados foram: entrevistas semiestruturadas; observação participante;
intervenção; focus group; notas de campo. Os resultados mostraram melhoria nas
relações, nas habilidades emocionais e no desempenho escolar.
O estudo, de metodologia hermenêutica, reflete a Pedagogia Social (PS) e as áreas de intervenção nos novos contextos atuais, tomando Educação Social (ES) como seu objeto de prática de socialização. Imbricamos essas práticas pelo encontro, que constitui o impulsionador da convivência e das relações humanas, perante as problemáticas humanas. O marco conceptual deambula entre a abordagem aos fundamentos da PS e ES e à articulação com outras áreas disciplinares. Norteamo-nos pelos seguintes objetivos: compreender a PS e ES nos novos contextos da sociedade; determinar o papel da PS/ES na inclusão cultural, educativa e geracional; relacionar a PS com a multiplicidade de pedagogias e expropriação dos saberes; valorizar a intervenção da ES através da pedagogia do encontro e da convivência na melhoria da formação e aprendizagem do cidadão, valorizando-se a vertente dialógica; valorizar a PS/ES nas exigências do aprender a ser, aprender a estar e a conviver através do encontro. O texto divide-se em quatro pontos relacionados com papel da PS e ES no cenário atual gerador de metamorfoses/emergências socioculturais, de multiplicidade de pedagogias e saberes. O desafio da PS assenta no papel da pedagogia do encontro e da convivência, ao nível da intervenção, no ideal educativo de cidadão global.
Os problemas sociais em Portugal eram enormes nos inícios do séc. XX, havendo um cenário de desviação social e delinquência infantojuvenil que preocupou o Pe. Oliveira na sua multiplicidade de ações/funções. O estudo histórico-descritivo e documental insere-se na História Social da Educação e pedagogia da delinquência infantojuvenil, tendo por base a obra daquele pedagogo, legislação e fontes secundárias da época sobre criminalidade e delinquência juvenil. A análise às fontes documentais foi submetida à metodologia hermenêutica, norteada pelos seguintes objetivos: analisar a vertente (sócio)pedagógica correcional do Pe.
Oliveira na pretensão de proteger, regenerar e reeducar os menores institucionalizados; analisar a tipologia dos delinquentes feita pelo Pe. Oliveira fruto da observação aos menores da Casa de Correção; analisar a Lei de Proteção á Infância de 1911, que deu início ao direito tutelar de menores em Portugal; abordar o plano de intervenção socioeducativa (Deus, Pátria, Trabalho) na reeducação dos internados.
A corporeidade é o elemento de visibilidade dos embates do ‘corpo’ com o mundo, produzidos pelos efeitos histórico-culturais e pelas novas articulações propiciadoras de predisposições estratégicas dos corpos e das almas, resultantes das forças do saber e do poder, que permite sedimentar esses confrontos e dinamizar campos de verdades historicamente constituídos e em constante mudança. O autor questiona, nos andaimes
antropológicos, sociológicos e pedagógicos, o sentido do ‘corpo’ e da ‘corporeidade’ no processo educativo, argumentando dois pontos fulcrais: a visão histórico-filosófica da semântica dos termos, insistindo nos discursos (elementos psicológicos relacionados com a identidade e imagem) sobre o corpo; a análise hermenêutica à ‘corporeidade’ em Merleau-Ponty e Zubiri; a análise educativa da relação da corporeidade e aprendizagem, na complexidade escolar atual.
Relacionamos memórias evocadas e histórias de vida de 11 professores primários aposentados no período antes e depois de 1974, numa abordagem qualitativa de base fenomenológica (ser professor – identidade). Utilizámos a técnica de entrevista, recorrendo à narrativa biográfica. Submetemos o seu conteúdo a categorias analíticas e de interpretação no tempo histórico, cujos resultados demonstraram uma relação entre histórias e reminiscências relatadas e articulação dos processos identitários (biográfico e relacional) da construção do percurso e da identidade de ser professor naquele tempo socio-histórico
Faria de Vasconcelos foi um pedagogista contemporâneo que se empapou pelos conhecimentos pedagógicos e manteve fixo o seu olhar no seu tempo histórico, para nele perceber não só as luzes dos ideais da Escola Nova, mas também o escuro da educação/pedagogia tradicional, que vigorava na época. Com esse olhar admitia que a escola deveria proporcionar os espaços e os meios educacionais adequados para desenvolver nos alunos as competências e a visão crítica, respeitando os seus interesses, as suas subjetividades, como também experimentando os saberes (pragmatismo ativo), pois o educar/ensinar constituía uma ação de procura e resolução de problemas, na procura de satisfazer as suas necessidades. Este exercício pedagógico permitia desenvolver a autonomia e a formação da cidadania, mas também levar o aluno rumo à alteridade e valores humanistas.
Este pedagogista albicastrense advogava pelo estudo científico da criança e da sua infância, pelo desenvolvimento do seu processo educativo, onde a escola e os professores deveriam estar atentos à sua adaptação, ao ritmo de aprender (certezas e incertezas) e aos seus problemas escolares.
Recorremos nesta palestra à obra escrita, ao pensamento psicopedagógico e humanista deste pedagogo, utilizando a metodologia da análise hermenêutica aos seus escritos, especialmente as Lições de Pedologia e Pedagogia Experimental’, aos ‘Problemas escolares’ e ‘As características de educação contemporânea’ (Revista Seara Nova, 1921) Com a pretensão de refletir e interpretar, à luz do pensamento de Faria de Vasconcelos e à luza da atualidade, abordaremos a conceção e enfoque da educação e da pedagogia contemporânea, no contexto da época e sob influência das ideias da Escola Nova. Esta análise terá um ponto prévio de enquadramento e, posteriormente dois pontos onde explanaremos a nossa análise reflexiva.
É um estudo histórico-descritivo, em História Social da Educação, que analisa os discursos jurídicos sobre a proteção da infância portuguesa, os pressupostos científicos e as medidas de intervenção. A nossa metodologia hermenêutica aborda os dispositivos criados para a proteção/prevenção, a (re)educação e regeneração da infância, durante o séc. XX, tendo como ponto de partida a Lei de Proteção à Infância de 1911.Os objetivos do estudo diluem-se nos dois pontos de análise, a qual incide nos normativos do direito de menores (estrutura) e nos discursos científicos que sustentaram o aparecimento das medidas protetoras e reeducativas, assim como sobre as aceções e evolução conceptual da proteção da infância em Portugal.
O texto valoriza a pedagogia do encontro na formação humana e convivência. A realidade quotidiana exige uma (nova) perspetiva de encontro(s), não só de tempos, mas entre pessoas/grupos, culturas e gerações, em que o ‘entre’ apresenta interação comunicacional/dialógica, na diversidade de temporalidades coexistentes na sociedade. O encontro é, no âmbito antropológico, ético e pedagógico, um espaço de convergência na relação do ser humano com o ‘outro(s), para gerar o ‘Nós’. A nossa argumentação, de índole hermenêutica analítica, aprofunda o sentido do encontro norteado pelos seguintes objetivos: entender o encontro em termos pedagógicos tendo em conta a recetividade dos seres humanos para que a sua mesmidade seja aberta à alteridade e outras formalidades humanas; (re)atualizar a pedagogia do encontro no marco das pedagogias de baixa densidade; potencializar a pedagogia do encontro, na congeneridade entre formalidade-conteúdo de apreensão real na base da vertente dialógica e convivencial. O marco teórico-conceptual oscila entre um conjunto de referências filosóficas, sociológicas, pedagógicas e éticas que permitiram estruturar o texto em dois pontos: 1º ‘evidência’ do cenário atual da sociedade, geradora de metamorfoses e emergências; 2º ‘desafio’ na base da pedagogia do ‘encontro’, explicitando a sua conceptualização no âmbito das pedagogias de baixa densidade. Pretendemos que a(s) pessoa(s) sejam geradoras do ‘Nós’, já que somos ‘Nós’ cada vez mais na realidade.
O quotidiano da criança, em cada época, produz-nos uma imagem/representação e uma atitude para com ela como se fosse um sentir natural de toda a História da Humanidade. À medida que retrocedemos na História (Social) da Infância e/ou da História da Educação (Social), detetamos, nesse passado atos de crueldade, maus-tratos e abusos, comportamentos de desviação (mendicidade, vagabundagem, vadiagem), de infração e de delinquência, situações de abandono/desamparo, de exploração laboral, etc. que fez daquela infância uma agenda de investigação para historiadores. Aquela infância que não teve um percurso e uma normalização social e educativa dita normal designamo-las por ‘Outras infâncias’, as quais mereceram reformas sociais com a submissão de medidas, dispositivos e de políticas sociais. A história dessa infância desvalida constitui um caminho de aproximação para a compreendermos melhor no âmbito da história social e educativa, na perspetiva de uma História desde abaixo. O problema do estudo é a imagem e representação social da ‘outra infância’ portuguesa, aquela que devido às suas condições e situações de ‘anormalidade’ estava considerada ‘desvalida’ e/ou à margem da normalização social e, por isso, necessitada de proteção e reeducação. O arco histórico de análise é as primeiras duas décadas do séc. XX. Na base da metodologia histórico-documental e descritiva e da análise ao conteúdo documental e às fontes de base ao texto (fontes primárias
impressas da época, legislação de proteção, a imprensa, o fotojornalismo, as monografias de instituições e outras fontes secundárias) o estudo está norteado pelos seguintes objetivos: -Analisar a construção da infância na vertente médico-social e higienista especialmente a infância infratora e/ou em conflito social; -Compreender os processos de proteção e assistência socioeducativa daquele período histórico. A representação social, daquela ‘outra infância, tem em conta as suas formas de relação com o mundo social e as formas institucionalizadas, que marcam as suas diferenças com as normais. A metodologia argumentativa será de índole fenomenológica (o fenómeno da outra/outras infâncias no contexto de representação social e
de reeducação, a diferenciação educativa dessa infância em instituições educativas especiais) e a hermenêutica (análise documental e discursiva às diversas fontes). A imagem (sócio – histórica) dessa infância teve o influxo de várias ciências no século XX, do dispositivo jurídico-social, das políticas sociais e de proteção, que implicaram uma construção social que culminou com legislação de proteção em 1911, 1919, 1925, 1936, etc. e, ainda em termos internacionais com os direitos da criança. A nossa pretensão é de contribuir com alguns elementos de reflexão para a História [social] da Infância ou da História da Educação Social em Portugal, abordando elementos de análise a essa infância: o assistencial; jurídico-legislativo; a imagem na imprensa e o reeducativo institucional.
Abordamos a representação social da infância portuguesa, mas especificamente a ‘Outra infância’, aquela que estava à margem da escolarização e normalização social da época e, por isso, necessitada de proteção, assistência e educação. O arco histórico de análise é o século XIX e parte do XX, norteado pelos seguintes objetivos: analisar a representação social da infância nas vertentes médico-assistencial - higienista e na da infração ou desviação social; compreender os processos de proteção, de assistência socioeducativa ou de correção. A representação social, daquela infância relacionava-se com as suas situações sociais e condições de conflito a que estava submetida, pelo facto de viver na rua, e com as formas de relação com o mundo social, o que implicava a sua diferenciação com as ditas normais. A metodologia argumentativa é de índole histórico-documental, fenomenológica (fenómeno a ‘outra infância’) e hermenêutica. A imagem da infância foi influenciada por várias ciências, a partir finais do séc. XX e pelas políticas sociais, que culminou com dispositivos de proteção, de assistência, de institucionalização terminando no direito tutelar de menores (iniciado em 1911) e, principalmente nos direitos da criança, no séc. XX. O estudo pretende dar contributos à História [social] da Infância em Portugal, inserindo-os também na História [social] da Educação. Com este olhar, discurso e objeto de estudo, poderemos enriquecer aqueles campos da História, já que se trata de um tema de certa atualização socio histórica e cultural, relativo aquele campo disciplinar da ‘Outra infância’ como um novo objeto de investigação na nova história (Children Studies).
Reivindicamos um novo papel à pedagogia social e à educação social no espaço socioeducativo escolar, devido ao surgimento de problemáticas sociais no seio da escola. Essa recuperação do escolar no processo de reconfiguração da pedagogia social, acostumada a intervir no âmbito da educação não-formal, converte a aquela num campo de reflexão da intervenção sobre os problemas sociais e educativos que nela ocorrem. Pretendemos com os nossos propósitos contribuir para a reconfiguração da pedagogia social e da ação da educação social na escola, em articulação com a intervenção comunitária. Na base de uma metodologia hermenêutica norteamo-nos pelos seguintes objetivos, os quais coincidem com os dois pontos estruturais do texto: analisar na realidade atual algumas evidências que exigem respostas socioeducativas no âmbito da pedagogia social e educação social; reconfigurar a pedagogia social como uma pedagogia social escolar, no âmbito das Ciências da Educação, de modo a compreender a intervenção escolar, através da educação social; compreender a (inter) relação entre a pedagogia social (âmbito teórico) e a educação social (âmbito prático), especialmente ao nível da prática pedagógico-social na escola; determinar o papel da pedagogia social no contexto escolar, os desafios e respostas socioeducativas dados pela escola. Sabemos que os programas de intervenção nos espaços socioeducativos escolares exigem a colaboração relacional ‘escola-família-comunidade’ e a (re)construção de uma pedagogia social inclusiva, equitativa, para a formação da cidadania, resolução de conflitos e de problemas sociais e educativos.
The article is based on the following objectives, on a hermeneutic (analytical) methodology that coincides with the structural points of the text: To analyze the indications/traces of the current reality and the direction of social education; Clarify conceptually and semantically social pedagogy and social education, in the field of Educational Sciences; Understand the (inter)relationship between social pedagogy (theoretical scope) and social education (practical scope), especially the practice of pedagogical-social action of social educators in the community; To deepen social pedagogy and social education in the context of school social intervention. We use a theoretical-conceptual framework led by a set of expert studies on social pedagogy and social education, which led us to deepen these concepts in the new spaces and current times of society in general. The spaces and times nowadays mark pedagogy in the social sphere, whether at the school and non-school level. We know that globalization has proliferated 'space and time' in learning and ways of living together, with new characteristics and areas of action or intervention. We want social education to include a series of intervention characteristics related to specific areas that are fundamental today, in addition to those that its evolution and identity have encompassed, for example: school for adults, elderly and intergenerational education; social entrepreneurship; environmental and ecological education; the management and promotion of culture, heritage and ecological/rural tourism; immigrants, refugees and ethnic groups; the promotion of women; mediation (school, social), etc.
deficiência mental apresenta muitos indigentes que são, normalmente, catalogados de marginais e
vagabundos, tendo uma má imagem social. A partir da metodologia qualitativa, na modalidade de
história de vida – em estudo de caso o ‘João’, recorremos ao método biográfico-narrativo. Foram
objetivos: construir a história de vida do João – deficiente mental indigente; analisar como o João é
visto pela família e comunidade; compreender a relação João-família-comunidade e que apoios tem.
Utilizámos as técnicas de recolha de dados: observação participante em notas de campo e
entrevistas (semiestruturadas à família, em profundidade ao João e inquérito por entrevista a 29
pessoas da comunidade), de modo a construir a sua biografia.
In this discussion, of a socio-historical nature, within the scope of the [Social] History of Education and Childhood, we analyze the child / childhood in the intricacies of the 19th century and part of the 20th century in Portugal. We used the hermeneutic approach methodology in the construction and interpretation of the documentary corpus, which was supported by specialized literature of the time and recent on those childhoods that did not have a process of normalization and schooling imposed by the society of the time. These childhoods are limited to an abnormality of behaviors and situations, due to the family, social and surrounding environment. The structure of the text, composed of 4 points, coincides with the established objectives: to understand the emergence of childhood that accompanied the social, family and political changes of the 19th century, causing social situations and conditions with an impact on children; explaining the emergence of social reforms with assistance and educational measures for the child / childhood, with emphasis on hygiene; analyzing the visibility of disadvantaged and marginalized children and the protection and institutionalization’s responses; to know the intervention measures on offending and delinquent children. It was up to social (political) reformers, with emphasis on the State and philanthropists to implement assistance, educational and moral regeneration measures, using specific protection institutions.
A Conferência faz parte da avaliação do Projeto de Investigação MRIR financiado de 2018 a 2022 pela FCT envolvendo vários parceiros do Pinhal Sul - Distrito de Castelo Branco
O artigo aborda a educação para as emoções, ministrada a alunos de duas turmas do 4º ano do Ensino Básico de Português. O estudo, realizado entre o final de 2019 e começo de 2020 (pré-pandemia), pretendeu desenvolver a inteligência emocional e habilidades socioemocionais naqueles alunos de modo a melhorar o desempenho escolar, as relações interpessoais, a convivência e o ambiente educativo de aula. O marco teórico-conceptual norteou-se por uma bibliografia sócio e psicopedagógica sobre as emoções, a inteligência emocional e as habilidades sociais, destacando-se referências a Salovey, Mayer e Caruso e colaboradores, Fernández-Barrocal, Extremera e Fernández-Barrocal, Zurita etc. Utilizou-se a metodologia qualitativa (estudo de caso), inserida no paradigma interpretativo, com aplicação de um programa de intervenção. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: observação do participante e documental; entrevista semiestruturada a dois professores; Teste Sociométrico de Amizade e prova de análise/reflexão com sete situações escolares cotidiana para desenvolver habilidades emocionais, além de notas de campo. Foram cumpridas as regras éticas e legais. Os resultados confirmaram um incremento nas relações interpessoais de amizade, desenvolvimento do conhecimento das próprias emoções e das dos outros, melhoria nas habilidades sociais e no clima educativo. Valorizou-se a importância de desenvolver a inteligência emocional e as competências emocionais na escola para melhorar a convivência escolar.
Educació i Cultura, editada pel Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears
As situações de indisciplina escolar constituem um desafio pedagógico atual para a prática pedagógica do professor, não só pelos sentimentos que geram (stresse, inquietação, ansiedade, angústia, impotência), mas também porque coloca no desempenho das funções docentes a procura de respostas e estratégias para as atenuar. Este texto consiste num estudo de caso, na perspetiva da investigação-ação do paradigma educacional (aplicação do Plano de Intervenção), no âmbito da metodologia qualitativa. Analisámos dois alunos considerados indisciplinados (aluno A – Carlos e aluno B – Rafael) no contexto escolar (turma do 4.º ano do 1.º CEB) de uma escola da cidade de Castelo Branco, durante o ano letivo 2012/13.
Pretendemos identificar as causas/motivos que levam esses alunos a cometerem atos de indisciplina, além de analisarmos a influência que têm esses atos no seu rendimento escolar.
Estabelecemos observações a situações concretas, visando possíveis linhas orientadoras de ação para prevenir ou resolver situações de indisciplina, desrespeito, desobediência ou incumprimento de normas na sala de aula, com os seguintes objetivos: compreender a indisciplina escolar em dois alunos do 1.º CEB; verificar as condutas mais frequentes de indisciplina ou incumprimento das normas; analisar os comportamentos de indisciplina desses dois alunos.
Pretendemos saber quais as oportunidades oferecidas de empregabilidade aos sujeitos com DID no concelho de Constância, na promoção da sua inserção e inclusão socioprofissional. Destacaremos a importância dos contextos (familiar, escolar, social) onde estão inseridos esses jovens, a relação entre a oferta formativa e a oferta e procura de emprego, a divulgação do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidades, o acolhimento e aceitação das entidades empregadoras. Propõe-se um Plano de intervenção capaz de colmatar as dificuldades existentes no concelho, relativo à inclusão socioprofissional e ao acompanhamento e apoios a 8 sujeitos DID.
Este estudo de caso, de metodologia qualitativa, aborda a temática do desenvolvimento emocional e a compreensão social em 3 crianças com espetro autista (PEA) duma escola, na cidade de Castelo Branco, inserindo-se no âmbito do Projeto de Inteligência Emocional aplicado a alunos do ensino básico na região. Os propósitos prendem-se com as dificuldades que existem, por parte daquelas crianças, na identificação de emoções e no desenvolvimento da habilidade de compreensão social relacionando-se a aprendizagem / educação emocional e no incentivo das relações interpessoais. Intentamos averiguar se essas 3 crianças autistas de um Agrupamento de Escolas conseguem desenvolver e melhorar as suas habilidades sociais a partir do Programa de Desenvolvimento de Compreensão Social (PDCS), de Manuel O. Rúa. O objetivo principal, ao aplicar o PDCS, é o de confirmar as suas vantagens e benefícios no desenvolvimento pessoal e social em autistas, já que elas têm muitas dificuldades na identificação de emoções e no desenvolvimento das habilidades de compreensão social, relacionadas com a aprendizagem/educação emocional para se conhecerem melhor e aos outros. Analisaremos as dificuldades existentes nessas crianças autistas, na identificação e regulação de emoções e no desenvolvimento da habilidade de compreensão social. Demonstraremos que há uma evolução relativamente ao número de acertos, nos sujeitos estudados, nas situações de pré e pós teste do PDCS. As emoções ‘alegria’ e ‘tristeza’ atingiram sempre o número máximo de acertos e muitas dificuldades em identificar o medo e a vergonha. O PDCS constituiu um instrumento de melhora das crianças com PEA, quer na identificação de emoções, quer nas relações sociais. Simultaneamente incrementou-se as tarefas de compreensão social, observadas através do incremento do número de acertos, assim como a redução do número de erros cometidos durante a execução das correspondências entre os modelos das figuras esquemáticas emocionais e as representações e situações relacionais apresentadas no processo de avaliação pré e pós-teste. Assim, os 3 alunos autistas passaram a compreender o significado das emoções no processo de comunicação e interação social, justificando-se a afirmação de que a aprendizagem realizada sobre estas áreas de desenvolvimento exerce uma influência decisiva na melhoria da compreensão social dos indivíduos com PEA. Houve uma falta de sucesso nas situações de role-playing que não conseguimos alcançar em algumas vezes, o que implica que o programa implementado deva ser encarado como um fator integrante de outros programas mais globais favorecedores do desenvolvimento da comunicação, interação social e do jogo simbólico. Isto é, deve fazer-se ênfase no valor da inter-relação de diferentes programas na prática educativa aplicados ao desenvolvimento das diversas áreas que incidem na melhoria das crianças autistas, de forma que as mesmas áreas se fundam num currículo funcional e significativo para o processo educacional.
Trata-se de um estudo qualitativo que analisa a história de uma pessoa adulta (Rosita) com deficiência intelectual, do sexo feminino, institucionalizada num lar de idosos na região portuguesa de Coimbra. O estudo assenta na análise do processo de inclusão institucional dessa cidadã deficiente, com microcefalia associada, de modo a sensibilizar os técnicos para a tomada de decisões, no âmbito gerontológico e educacional, através da implementação de um plano de intervenção, que vise desenvolver competências básicas. Construímos o percurso de vida da Rosita, realizando entrevistas semiestruturadas ao pessoal técnico do lar, ao irmão e a um utente amigo, com análise de conteúdo (categorias), para além de observações (documentais, naturais e participantes), notas de campo e triangulação de dados e metodologias. Propusemos um plano de intervenção e estratégias de inclusão para Rosita, durante seis meses no ano de 2012, de modo a inseri-la ativamente na instituição, para se tornar uma cidadã autónoma, participativa e incluída.
Trata-se de um estudo qualitativo, que analisa a integração em um lar de idosos, numa vila portuguesa, de uma adulta com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais (DID). O estudo aborda a inclusão institucional dessa cidadã deficiente, de modo a sensibilizar os técnicos para a tomada de decisões, no âmbito da intergeracionalidade e da gerontologia educacional, com a implementação de medidas de intervenção, que visem desenvolver suas competências básicas. São objetivos de fundamentação: conhecer o percurso de vida do sujeito em estudo e sua integração na instituição para idosos; investigar se essa valência do lar está preparada para receber indivíduos com DID; analisar as medidas adotadas para a inclusão de indivíduos adultos; estabelecer medidas que promovam uma verdadeira inclusão intergeracional (plano de intervenção). Identificaremos as barreiras arquitetónicas da instituição, a capacitação do quadro técnico para trabalhar com indivíduos adultos com DID e idosos, para além de propor medidas institucionais para a inclusão do sujeito em estudo. Construímos o percurso de vida da adulta realizando entrevistas semiestruturadas com o pessoal técnico do lar, o irmão e um amigo idoso, usando a técnica da análise de conteúdo (categorias), realizamos observações (documentais, naturais e participantes), registramos notas de campo e procedemos à triangulação de dados e metodologias. Propusemos um plano de intervenção com estratégias de inclusão, durante o semestre de 2014, para ajudá-la a se inserir ativamente na instituição e na escola anexa, estimulando-a a desenvolver competências e habilidades sociais, de modo a ser uma cidadã autónoma, participativa e incluída.
Abordamos as problemáticas dos alunos provenientes do ensino regular para o profissional e vocacional em agrupamento de escola e escolas profissionais (zona rural e urbana) em Portugal para compreender: variáveis demográficas; necessidades de aprendizagem e respostas socioeducativas, psicopedagógicas e orientações; opiniões sobre escola, curso, currículo/conteúdos, aprendizagem e motivações; relação pedagógica; ambiente educativo e convivência. Propomos um plano de orientação para essas escolas apoiarem os alunos na decisão de curso e formação.
Analisamos as dificuldades de inclusão duma aluna D, de 12 anos, portadora Síndrome X Frágil, que frequenta o 2º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escola de Castelo Branco. Os objetivos orientaram-se à aplicação, na aula, de medidas educativas inclusivas, com estratégias e metodologias impostas no Currículo Educativo Individual. Utilizamos a metodologia qualitativa (estudo de caso), recorrendo à observação documental, naturalista e participante, questionário aos professores, entrevistas semiestruturadas (pré, pós) à professora de ensino especial e à encarregada de educação, triangulando os dados com as notas de campo. Os resultados confirmaram que a escola respeita a inclusão com recursos adequados. Os professores de apoio demostram boas práticas, informação adequada à síndrome e às necessidades de intervenção. Os pais revelam-se colaborativos, empenhados e envolvidos, realçando a proximidade com a escola e participação no processo de ensino-aprendizagem (contributo ao sucesso).
O estudo aborda a Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) em salas de aula do 1º Ciclo com intuito de compreender melhores estratégias e apoios para professores intervirem. A forma como a PHDA é encarada por professores e pais pode melhorar problemas de comportamento, aprendizagem e relações dessas crianças em sala de aula. É um estudo de caso de investigação qualitativa em educação especial. Aplicou-se em duas crianças de Agrupamentos de Escola diferentes programa de intervenção cognitivo-comportamental de Isabel Orjales Villar, cuja eficácia é medida na escala de Conners aos pais e professores e nos critérios do DSM IV, em um pré e pós-teste. Registámos, realizámos entrevistas com respetiva análise de conteúdo documental, comparando resultados obtidos nas crianças. Nos pré e pós-teste, os valores das subescalas avaliadas diminuíram, inclusive no índice de défice de atenção e hiperatividade de Conners.
Trata-se de um estudo de caso, realizado em 213, de metodologia qualitativa
(paradigma interpretativo e sócio-crítico), que analisa a importância da narração do conto,
através de, no processo de ensino-aprendizagem a n=7 alunos com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais do 2.º Ciclo num Agrupamento de Escolas em Lisboa, abrangidos pelo
Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro. Sabemos que os conteúdos de ‘H.ª e Geografia de Portugal’ para aqueles alunos é mais significativo se for realizada por estampas ou imagens nas narrações. Os objetivos previstos são: compreender os efeitos pedagógicos do conto, de leitura narrativa e da imagem (total=20 estampas) na aquisição de competências básicas desses alunos, aplicando um Plano de intervenção de 8 narrações de ‘Estórias de H.ª de Portugal’. Utilizámos as técnicas de observação participante (sala de aula), entrevista ao professor da turma, análise documental (processos individuais), fichas de autoavaliação de cada sessão, entrevista ‘focus group’ (pós plano). Adotamos a técnica de triangulação de dados, com o apoio das notas de campo e teoria fundamentada, que permitiu constatar o elevado grau da importância do conto, da imagem e da leitura naqueles alunos. As estampas foram ferramentas didáticas e lúdicas eficazes na abordagem da disciplina. O estudo registou resultados positivos na aquisição de competências básicas nos alunos ao nível curricular e aquisição de conhecimentos, uma maior interação dos alunos com os colegas da turma/grupo e com o professor (questionamento).
O estudo de índole histórico-descritivo e hermenêutico trata a evolução do ensino técnico-profissional português desde século XVIII até hoje, sendo norteado pelos seguintes objetivos: analisar historicamente o ensino técnico-profissional e/ou formação profissional nos seus pressupostos e nas medidas de política educativa naquele período histórico; compreender os constrangimentos e as contradições caracterizadoras da formação profissional (escola pública ou escola profissional); identificar alguns pressupostos da relevância do ensino profissional no europeu e os seus impactos no sistema educativo português. O marco teórico será a legislação nacional e europeia, além de fontes historiográficas sobre ensino técnico-profissional, de modo a compreender a formação para o “trabalho” feito nas escolas. Indica-se que pouco a pouco foram implementadas várias respostas às solicitações europeias para a educação, formação e qualificação das
populações. A educação/formação profissional deve ser encarada globalmente em uma valorização do e pelo trabalho, convertendo-se em um fator construtivo da cidadania ativa e de uma ética de responsabilidade comum.
Hermeneuticamente, e na perspectiva histórico-educativa, o texto aborda a evolução do ensino técnico-profissional em Portugal desde o fim do século 18. Analisa as medidas e decisões legislativas que visavam implementar o ensino profissional. Todo o percurso do ensino profissional caracterizou-se por uma série de avanços e recuos, ligados à evolução política do país. Ao seu início promissor, com Marquês de Pombal, seguiu-se um forte impulso no século 19, mas posto em xeque durante as convulsões liberais e a 1ª República. No Estado Novo, foi destinado às classes desfavorecidas, o que conduziu à sua estigmatização.
A educação parental é um recurso psicoeducativo, relacional e comunicacional na adaptação escolar. A entrada das crianças no ensino básico, provenientes da pré-escola (transição), é um momento de mudanças para elas e para os pais. A literatura, em geral, refere como fatores essenciais para o sucesso dessa adaptação escolar: o contexto; a família; a escola; a etnia, a cultura e linguagem; as características pessoais da criança. O estudo realizou-se em 2014, numa turma (N= 24 alunos) de uma escola urbana portuguesa (Escola Básica Cidade de Castelo Branco), de forma integrada com o Projeto de Inteligência Emocional em contexto escolar. A pesquisa apresenta uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa), com o objetivo de interpretar a relação dos comportamentos interativos e comunicativos dos pais e a adaptação dos filhos ao 1° ano da escolaridade obrigatória. As técnicas de recolha de dados foram: observação participante, escala de percepção sobre competências parentais, entrevista semiestruturada com os pais (N=18) e notas de campo. Realizou-se uma triangulação de dados, de base categorial e estatística, que confirmou a boa comunicação entre pais e filhos, na medida em que aqueles recorrem frequentemente ao diálogo com a escola para abordar situações de aprendizagem e comportamento. Os pais revelaram estar ’presentes’ e preocupados com a prática de atividades dos filhos e com a adaptação ou integração escolar, insistindo no cumprimento das regras de convivência, disciplina, postura em sala de aula, concentração e atenção.
Na resolução de conflitos, no incumprimento de normas e nas situações de indisciplina escolar, exigem-se mediadores e programas de mediação. Na implementação destes programas é essencial formar mediadores para intervirem em contexto socioeducativo com alunos, professores e família, sendo exigido a esses profissionais uma ética profissional mediadora. A necessidade de educar os alunos para integrarem as equipes de mediação implica a promoção de valores de convivência e uma ética do cuidado com os outros. A ética do cuidado e do encontro permite mais possibilidades de convívio e novas formas de existência humana. Procuramos interpretar os pontos de vista de alguns autores sobre a mediação (modelos e programas), destacando a educação para a tolerância, solidariedade, responsabilidade e cidadania, que são exigências da escola no âmbito da educação para os valores. A mediação contribui para resolver conflitos, melhorar a comunicação, as relações e a convivência.
À escola portuguesa colocam-se desafios sobre integração de alunos, filhos de imigrantes luso-africanos.
Situamo-nos no âmbito da pedagogia intercultural e diferenciada e escola inclusiva. O estudo averigua as
medidas à integração e necessidades escolares dos alunos do 1º Ciclo Ensino Básico de origem cabo-verdiana dadas pelo Agrupamento de Escolas no interior do país. Definimos os seguintes objetivos: perceber se os alunos cabo-verdianos se sentem integrados na escola e turma do 1ºCiclo; identificar as principais dificuldades sentidas por esses alunos na integração e processo de aprendizagem; caracterizar a relação pedagógica e clima educativo de turma e a relação desses alunos cabo-verdianos com os seus pares. Escasseiam investigações com estes alunos, por isso o marco teórico de fundamentação assentou em estudos relacionados com a inter e multiculturalidade, educação e diversidade cultural nas escolas, pluralidade de identidades, a escola e as minorias, educação inclusiva, etc. Trata-se de um estudo de caso situacional, de metodologia qualitativa, que decorreu no 2º semestre/2018 e que utilizou como técnicas de coleta de dados: observação documental e participativa, entrevistas, focus grupo e notas de campo. Recorremos no tratamento de dados à análise de conteúdo e à triangulação. Os resultados confirmaram que há integração escolar dos alunos cabo-verdianos no ensino básico (turma e escola), havendo apoio dos professores e técnicos e, ainda algumas atividades que envolvem os agentes educativos. Contudo, escasseiam projetos interculturais a nível da Escola, que promovam mais a inclusão desses alunos com os seus pares, para uma melhor convivência educativa, assim como participação ativa das famílias.
A relação entre a escola e a família é extremamente importante para o desenvolvimento harmonioso de todas as crianças, nomeadamente das crianças com NEE, pois o seu desenvolvimento é fortemente condicionado por estes dois contextos de socialização. A importância da parceria escola-família é fundamental para o desenvolvimento das crianças, bem como a importância da formação de pais e professores para melhorar a comunicação, a participação e envolvimento dos pais na escola. Utilizando a metodologia qualitativa pretendeu-se compreender como se tem processado a relação entre a Escola e as Famílias de crianças com NEE. Recorremos à entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados, posteriormente apresentados e discutidos. Alegamos, como matriz para outras reflexões, a necessidade de mudança da escola apostando na formação dos seus profissionais, para que possam formar e capacitar os pais para uma comunicação mais eficiente, envolvimento mais rico e, para uma participação mais responsável.
Esta investigación e intervención psicopedagógica se realiza al finalizar el curso 2010-2011 en un centro educativo de Badajoz, tomando una muestra de 20 profesores. Con el proyecto e intervención tratamos de mejorar la competencia emocional en profesores de Educación Secundaria Obligatoria Y Bachillerato, así como aportarles conocimientos y destrezas para trabajar esta competencia con sus alumnos.
Esta intervención es un estudio piloto de una investigación transfronteriza entre la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura (España) y la Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal). Con esta intervención se pretende demonstrar la eficacia de un Programa de Inteligencia Emocional en alumnos de Educación Primaria españoles y portugueses, estudiando en su caso, el impacto que tiene en el desarrollo de la Competencia Básica Lingüística. Para el aprendizaje emocional de los alumnos y una adecuada convivencia en el centro educativo, destacamos la importancia de la formación del profesorado, que enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambos sistemas educativos y su desarrollo en los centros, siendo un pilar muy importante en ellos los padres y profesores.
Los resultados observados hasta el momento, contribuyen a demostrar la relación existente entre la Inteligencia emocional y la mejora del autoconocimiento, del clima social en el equipo docente, así como la mejora de la práctica educativa.
O presente documento reúne os contributos de todos os autores que
apresentaram as suas comunicações na III Conferência do Instituto Politécnico de Castelo Branco sobre o Livre Acesso ao Conhecimento Científico e que consentiram em partilhar
as suas ideias e o seu conhecimento, disponibilizando-os em Livre
Acesso.
Este estudo descritivo insere-se no Programa de Inteligência Emocional (PIE) aplicado a alunos do 3.º e 4.º ano do ensino básico na região de Castelo Branco, pretende analisar as relações de amizade (aceitação, rejeição) e os níveis de autoconhecimento das emoções (habilidades emocionais), antes e depois de aplicado o programa em alunos de turmas de educação básica (n=91), no ano letivo 2011-12. Sabemos que a turma é um grupo social, um campo de forças diferente da soma dos sistemas de tensão que o constituem, com o seu próprio clima dinâmica e estrutura de inter-relações (afetivas, sociais) O Teste Sociométrico (5 níveis resposta) aplicado aos 4 Grupos/turmas (3.ºA, 3ºB, 4.ºA, 4º B) ofereceu-nos (Pré e Pós) o posicionamento, as relações de afinidade, a estrutura da turma. Ao nível da inteligência emocional aplicamos aos Grupos/turma de ‘Controlo’ (3ºB, 4.ºB) e Grupos ‘Experimental (3.ºA, 4.ºA) um ‘Questionário de Habilidades Emocionais’, de 45 itens (escala de 3 níveis), validado, com intuito de conhecer as habilidades de autoestima, controlo e reconhecimento das emoções, habilidades interpessoais, empatia, organização, resolução de conflitos e sensibilidade social. Todos os alunos pontuaram no ‘nível alto’ (46 a 79) tendo o ‘questionário’ uma boa consistência interna global (Alfa de Cronbach=0,932). O Grupo/turma 3.ºA (experimental) registou as médias mais elevadas em todos os 6 fatores categoriais do questionário, assim como nas relações interpessoais. Destacamos o 3.º A, após o PIE, possui melhores habilidades sociais e emocionais e, uma coesão em termos de relações de afetividade. Em relação, ao Teste sociométrico analisámos turma por turma a ‘aceitação/rejeição’ dos alunos nas relações e por género (diferenças significativas), demonstrando-se que as turmas de 3.º ano obtiveram melhores pontuações (relações sociais) que as de 4.º ano, verificando-se que em todas elas há um aluno/a que recebe a maior pontuação dos pares (aceitação) e alguns que são rejeitados.
O livro apresenta os resultados de um estudo de caso referente a uma escola do 1º ciclo no âmbito dos estudos de avaliação da reforma educativa. São analisadas diversas variáveis relacionadas com a eficácia das escolas, designadamente o currículo, o apoio aos alunos, a gestão, o clima de escola e os recursos, entre outras.
Apresentam-se os instrumentos utilizados, bem como conclusões e recomendações.