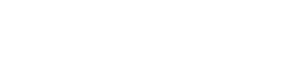Search results
738 records were found.
O planeamento e a gestão territorial a cada nível escalar de intervenção defrontam-se muitas vezes com dificuldades na articulação da componente biofísica com as actividades socioeconómicas. Com efeito, os constrangimentos a que o funcionamento da paisagem está sujeito gera muitas vezes perturbações resultantes do não equacionamento do espaço segundo uma abordagem hierárquica suficientemente abrangente, no que se refere à sua ecologia. Nesse sentido, encontra-se em desenvolvimento uma metodologia de caracterização e avaliação ecológica que de modo sistematizado integra sucessivamente objectivos e condicionamentos supra-regionais, factores estruturais regionais e exigências locais decorrentes das particularidades de cada uso e de cada local. Com enquadramento conceptual no âmbito das teorias da ecologia da paisagem, a metodologia emergente procura produzir um referencial de caracterização e avaliação ecológica do território, com vista à articulação dos processos de gestão e à promoção dos objectivos de Conservação da Natureza.
Num mesmo organismo pluricelular existem diferentes tipos de células e as
diferenças são induzidas pelo controle dos genes que são transcritos (activados) em cada
célula. Algum processo deverá actuar no DNA para que esses diferentes tipos de células se
formem durante o desenvolvimento do ser vivo, de outra forma, todas as células somáticas
do organismo, possuidoras da mesma carga cromossómica, seriam idênticas. O processo de
controle da transmissão de genes activados e desactivados, de uma geração de células às
seguintes, ainda não está bem esclarecido. O que se sabe é que muitas células mantêm as
suas características únicas quando são estabelecidas em cultura in vitro. Os mecanismos
regulatórios envolvidos devem ser estáveis e, uma vez estabelecidos, são transmitidos às
células-filha quando a célula se divide. Existem vários modelos para explicar os mecanismos
da regulação génica. A metilação do DNA (uma modificação química que se observa pela
ligação de um grupo metil ao carbono 5 da citosina - Fig. 1), suprime a transcrição de
determinados genes e também promove a alteração da estrutura da cromatina para formas
mais condensadas. Mas, o modelo proposto para explicar a influência da metilação do DNA
na expressão génica, não deixa de ser polémico pois, para uma grande parte dos genes
envolvidos nesse último fenómeno, torna-se necessário o controle adicional de determinadas
proteínas regulatórias.
Pretendemos expor alguns dos argumentos e evidências a favor e contra a relação
causal entre a expressão génica e a metilação do DNA e, em particular, a influência deste
processo nos fenómenos da inactivação dos genes, da marcação parental do genómio, da
diferenciação e do envelhecimento das células e organismos.
Comunicação apresentada no Simpósio de Propagação Vegetativa de Espécies Lenhosas que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 18 a 20 de Outubro de 1996.
No ano de 2001, efectuaram-se ensaios
com estacas terminais provenientes de uma
cameleira de origem seminal, em duas épocas
diferentes do ano (Abril e Junho).
Os tratamentos incluíram a realização
de uma ferida longitudinal (FP) e a aplicação de
AIB (ácido indol-3-butírico) em solução à base
das estacas durante um segundo, em três
concentrações diferentes: 5 000, 10 000 e 15
000 ppm. Após 2 meses do início dos ensaios
anotou-se o número de estacas enraizadas (NR),
mortas (M) e com callus (C), para além, do
número médio de raízes e do comprimento
médio da maior raiz. Os tratamentos que
incluíram AIB e ferida provocaram as
percentagens de enraizamento mais elevadas em
ambas as épocas. A época mais propícia para se
obterem as melhores percentagens de
enraizamento foi a de Abril, para os tratamentos
com concentrações mais baixa e mais elevada
de AIB (5 000 e 15 000 ppm), com 70 e 73% de
estacas enraizadas ao fim de 2 meses e 77 e
87% ao fim de 3 meses. A maior percentagem
de estacas mortas verificou-se na época de
Junho. Em Abril e Junho, os tratamentos que
conduziram a uma maior percentagem de callus
corresponderam aqueles onde não se aplicou
auxina.
Comunicação apresentada no Simpósio de Propagaçao Vegetativa de Espécies Lenhosas que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 18 a 20 de Outubro de 1996.
Comunicação apresentada no Simpósio de Propagação Vegetativa de Espécies Lenhosas que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 18 a 20 de Outubro de 1996.
Comunicação apresentada no Simpósio de Propagação Vegetativa de Espécies Lenhosas que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco de 18 a 20 de Outubro de 1996.
O azereiro é uma espécie autóctone e rara em Portugal, sujeita a legislação de
protecção por ser vulnerável devido à degradação crescente do seu habitat natural. Neste
trabalho compilou-se um conjunto de informações ao nível da morfologia, corologia e ecologia
do azereiro, para além da utilização e processos de produção em viveiro. Por fim inclui-se uma
carta de potencial de ocorrência de azereiro.
Neste artigo pretende-se revisitar a Beira Interior com a ajuda de alguns números, que possam situá-la do ponto de vista da sua estrutura sócio-económica e ainda relativamente à floresta, nas suas potencialidades e actuais restrições. Conclui-se com uma breve referência a essa nova estrutura, que é a ESACB, especialmente o Curso de Produção Florestal.
Comunicação apresentada no Simpósio de Propagação Vegetativa de Plantas Lenhosas que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 18 a 20 de Outubro de 1996.
Este trabalho constitui um extracto de uma comunicação apresentada nos "III Encuentros sobre propagación de espécies autóctonas y restauración del paisage" que decorreram em Madrid em Dezembro de 1995.
Meteorologia e climatologia
Processamento e conservação dos alimentos
Contém referências bibliográficas
Contém referências bibliográficas
Contém referências bibliográficas
Taxonomia e fitogeografia
Contém referências bibliográficas
Contém referências bibliográficas
Transporte de pacientes
Thesis presented to the University of Nottingham as part of requirement for obtaining the degree of Master of Education in Supervision
Qualidade dos pêssegos da região da beira interior no ciclo vegetativo 2015
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Contém referências bibliográficas
A pesca recreativa de águas interiores é uma importante actividade de lazer em Portugal Continental. O achigã (Micropterus salmoides), espécie dulciaquícola originária dos EUA e introduzida nos Açores em 1898, é um dos peixes com maior interesse para a pesca desportiva. Hoje, o achigã pode ser pescado em quase todas as albufeiras e rios de águas calmas de Portugal tendo contribuído para a redução das populações autóctones de ciprinídeos. O repovoamento com achigãs de cultura, o uso de isco artificial, a pesca sem morte e o reajustamento do tamanho mínimo de captura têm sido utilizados como medidas de manutenção das populações. Neste trabalho de revisão descreve-se o habitat, a morfologia e os hábitos alimentares e reprodutivos desta espécie piscícola.
Comunicação oral apresentada no 6.º Encontro Nacional de Protecção Integrada que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, no âmbito do painel sobre o Olival
Comunicação apresentada no 6.º Encontro Nacional de Protecção Integrada que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Poliécnico de Castelo Branco, de 14 a 16 de Maio de 2003, no âmbito do painel sobre Prunóideas.
Comunicação oral apresentada no 6.º Encontro Nacional de Protecção Integrada que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 14 a 16 de Maio de 2003, no âmbito do painel sobre Prunóideas.
O Património Cultural, como história individual e coletiva, tem de ser valorizado pelas populações locais, na medida em que corresponde ao seu universo identitário.
Neste artigo, defendemos ser fundamental, para uma verdadeira dinamização do Património local, que a comunidade conheça e reconheça o valor dessa herança cultural, a fim de a poder rentabilizar como recurso de desenvolvimento.
Consideramos, igualmente, que a Animação Artística, enquanto forma de intervenção num território, num trabalho efetivo e prolongado numa comunidade, promove a força desse património, desafia mentalidades, explora projetos de interação, incentiva a aceitação da diversidade, cria o novo, acolhendo o antigo.
Quando se estabelece a relação entre um Património herdado e um Património que se vai construindo, quando se favorece a animação e a educação artísticas, no diálogo entre o fazer expressivo-artístico e outras culturas, artes e estéticas, projetos diversificados podem e devem estruturar-se. Estes projetos permitem tornar presente a tradição, desbloquear os limites dos processos criativos e capacitar a população para ser agente do seu próprio desenvolvimento, propondo, deste modo, alternativas à cultura massificada e à imposição de uma monocultura à escala global.
Este artigo visa refletir sobre esta problemática e acentuar que a riqueza cultural de uma comunidade não pode medir-se pelo valor económico imediato que ela produz, mas terá que ser encarada como investimento de futuro, seja no direito das novas gerações a usufruir orgulhosamente do seu património, seja no disponibilizar de novas condições para o bem-estar das populações, seja no atrair de novos visitantes, seja no desenvolvimento social e económico gerado, a médio e longo prazos.
A figueira-da-índia [Opuntia ficus-indica (L.) Miller] é uma espécie da família Cactaceae, com centro de origem e domesticação no México. Possui características morfofisiológicas particulares que permitem uma elevada eficiência de utilização da água. Esta espécie representa uma cultura alternativa para as regiões do interior de Portugal onde se prevê que as alterações climáticas possam vir a ter maior impacto. Neste estudo pretendeu-se avaliar o desempenho de ecótipos portugueses de O. ficus-indica quanto à produção de fruto.
Em Maio de 2012 foram plantados, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco, num solo de baixa aptidão agrícola, cladódios de dezasseis ecótipos portugueses de O. ficus-indica e duas cultivares italianas, “Gialla” e “Bianca”. O delineamento experimental consistiu em blocos casualizados completos com três repetições. O compasso foi de 2,5 x 1,5 m, com 15 plantas por população e um cladódio (planta) por cova. Antes da plantação foi realizada a fertilização com um adubo ternário, fornecendo 40 kg/ha de cada macronutriente (N, P e K). Nos dois primeiros anos o ensaio foi conduzido em sequeiro e no terceiro ano foram fornecidos, aproximadamente, 70 mm de água. Foi realizado o controlo mecânico de infestantes sem mobilização do solo. As populações foram avaliadas ao terceiro ano com a quantificação da produção em peso (kg) e número de frutos por planta e de frutos por classes de peso.
Relativamente aos parâmetros avaliados, verificou-se a existência de diferenças significativas entre as populações estudadas. As cultivares “Gialla” e “Bianca” foram as mais produtivas destacando-se nitidamente dos ecótipos portugueses, o que reflete a sua origem como material vegetal melhorado. Entre as dezasseis populações portuguesas de O. ficus-indica, foram selecionadas cinco com interesse para produção de fruto que poderão constituir material de partida para iniciar um programa de melhoramento da espécie.
Produção comercial de achigãs - primeira experiência em Portugal
Variabilidade espacial de Arsénio em solos da bacia hidrográfica do Rio Águeda (Portugal-Espanha)
Efeito da aplicação de diferentes regimes de rega deficitária no pessegueiro ‘Sweet Dream’ cultivado num pomar da região da Beira Interior.
A cultura do pessegueiro na região da Beira Interior: elementos caraterizadores da produção.
Efeito da cobertura do solo com manta Ecoblanket no desenvolvimento das infestantes em pomares de pessegueiros na região da beira interior
Os modelos empíricos como ferramentas úteis na experimentação e análise de resultados em fruticultura.
Eficiência reprodutiva de porcas bísaras em regime ar livre, com maneio simplificado.
A investigação operacional por detrás de um SIG no apoio à Proteção Civil.
Identificação de compostos bioativos em plantas silvestres e plantas in vitro de Pterospartum tridentatum (L.) Willk.
Avaliação do efeito de campos eléctricos pulsados no rendimento e na presença de compostos bioactivos no azeite virgem.
Eficiência energética nas indústrias de fabrico de queijo da Beira Interior.
O ISBN (1) corresponde à Escola Superior Agrária de Viseu
Contém referências bibliográficas
Descrição baseada em: A. 15, nº 18 (Jun. 2007)
O presente trabalho foi realizado com o objectivo de contribuir para a avaliação do sistema de produção de produção dos bovinos de raça Preta. Para o efeito, e com a colaboração da Associação de Criadores de Bovinos de Raça Preta (ACBRP), foram realizados, no período entre Setembro de Dezembro de 2001 e através de entrevista directa, inquéritos a 47% dos criadores inscritos na ACBRP.
Foi apurada uma área média de exploração de 432.4 ha (± 279.6) sendo esta, na sua maioria, dedicada a culturas forrageiras. O número médio de fêmeas reprodutora de raça Preta por exploração é de 87.18 animais (± 37.3), com um encabeçamento por superfície forrageira de 0.38 CN/ha (± 0.15) com uma relação touro/vaca de 1/38.
Para a caracterização dos parâmetros reprodutivos e produtivos da raça, verificamos que a idade ao primeiro parto é de 32.59 meses (± 3.14), a idade das vacas ao refugo é de 13.14 anos (± 1.42) e a idade ao refugo dos touros é de 8.27 anos (± 0.98). A taxa de fertilidade obtida foi de 81.28% (± 9.42), sendo a época de verão a época de partos mais representativa. A taxa de mortalidade dos adultos é de 1.97% (± 1.68) e a taxa de mortalidade total dos vitelos é de 4.61% (± 2.29). O desmame é feito aos 6.84 meses (± 0.62) de idade, a altura em que grande parte dos animais são vendidos. Só em 41% das explorações se faz a recria e o acabamento dos novilhos, para serem vendidos aos 18 meses.
A realização desta Jornada Técnica sobre o Castanheiro inseriu-se no âmbito da divulgação do Projecto PAMAF 6127.
A realização desta Jornada Técnica sobre o Castanheiro, inseriu-se no âmbito da divulgação do Potojecto PAMAF 6127.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
O objectivo deste trabalho foi o de avaliar os efeitos
ambientais decorrentes da produção de suínos ao ar
livre, através da evolução das propriedades químicas
do solo e da caracterização das águas de drenagem
interna. O trabalho foi desenvolvido na unidade experimental
de produção de suínos parqueados ao ar livre da
Escola Superior Agrária de Castelo Branco.
Estabeleceu-se um plano de monitorização das
propriedades do solo com base em colheitas com
uma periodicidade bi-mensal. Analisaram-se os parâmetros:
pH, C.E., Co, P, K, bases de troca, Cu e Zn. A área
de cada parque foi dividida em duas zonas, uma
considerada mais suja que corresponde à área onde
estão os comedouros e locais de dejecção, e outra
mais limpa na restante área. O trabalho iniciou-se
em Janeiro de 2005 e em Maio de 2006 efectuou-se
uma amostragem georreferenciada ao solo em toda
a área da unidade experimental. Instalaram-se cápsulas
de recolha de lixiviados para caracterização química
das águas de drenagem interna. Analisaram-se os
parâmetros: pH, C.E., N-mineral, P total, Cu e Zn.
Os resultados obtidos após o primeiro ano levam
a concluir que devido ao maneio e ao comportamento
Produção de suínos ao ar livre:
avaliação de efeitos ambientais
Maria do Carmo Horta1
dos suínos existe uma elevada heterogeneidade nas
propriedades do solo. Verificou-se uma acumulação
no solo de todos os elementos analisados, havendo
zonas preferenciais de acumulação de nutrientes.
Nestas zonas, a capacidade de retenção do solo
é excedida e o transporte de nutrientes nas águas de
drenagem interna, nomeadamente N e P, em quantidades
por vezes superior ao que é ambientalmente admissível
acontece. Aconselha-se uma alteração no maneio
dos suínos e a continuação da monitorização da área
no sentido de avaliar a eficácia das sugestões propostas.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olvicultura que decorreu em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de 289 a 31 de Outubro de 2003.
Comunicação apresentada no III Simpósio Nacional de Olivicultura que decorreu em Castelo Branco, de 29 a 31 de Outubro, na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
A ervilha proteaginosa (Pisum sativum L.) é uma leguminosa com interesse na produção de proteína vegetal para a indústria de rações para animais, área em que a EU é deficitária. O presente estudo teve por objectivo avaliar o comportamento agronómico de 20 cultivares, inscritas no catálogo comunitário de variedades de espécies agrícolas, na região de Castelo Branco.
São apresentados resultados relativos à campanha 2009-2010. As cultivares estudadas apresentam diferenças significativas em todos os caracteres quantitativos estudados. No que se refere à produção, registaram-se valores superiores a 6.000 kg/ha para 10 das cultivares estudadas (Cartouche, Enduro, Arthur, Audit, Corrent, Alhambra, Cherokee, Isard, Livia e Gregor) e 16 apresentam produções acima dos 4.000 kg/ha. No entanto, os bons resultados obtidos não podem ser dissociados das condições meteorológicas ocorridas, tendo-se registado valores de precipitação bastante superiores ao habitual para a região. Fica patente a necessidade de efectuar ensaios adicionais de estudo do comportamento agronómico de cultivares de ervilha proteaginosa de forma a obter resultados mais consistentes. Os resultados permitem contudo eleger um grupo de cultivares com boas produções e adequadas à região.
A Campina de Idanha é uma das zonas do país onde mais se produz melancia (Citrullus lanatus). Por vezes, devido ao excesso de produção ou devido à falta de qualidade de alguns frutos, a melancia produzida não tem valor comercial podendo ter como destino a alimentação animal. Neste trabalho caracteriza-se o fruto do ponto de vista nutricional e avalia-se o seu interesse para a alimentação de novilhos. A melancia apresenta elevados teores em PB (14,47% ±4,54) e em NFC (53,80% ±8,89). No entanto, devido aos baixos teores em MS (3,8% ±1,62), NDF (20,63% ±2,80) e ADF (18,39% ±2,93) a melancia só deverá ser utilizada na alimentação de ruminantes se associada à ingestão de alimentos forrageiros secos com o objetivo de aumentar os teores em MS, NDF e ADF para valores ≥40%, ≥40% e ≥21%, respetivamente. Na mistura, o NFC deverá ser ≤36%. Utilizando a técnica do Quadrado de Pearson, acertámos duas misturas para 45% de MS, 53,9% melancia + 46,1% palha de trigo (9,05MJ/kgMS, 9,39%PB, 46,93%NDF, 30,78%ADF e 33,97%NFC) e 54,3% melancia + 45,7% feno de aveia (9,82MJ/kgMS, 11,30%PB, 41,06%NDF, 27,33%ADF e 38,45%NFC). Quando alimentado com a primeira mistura, o GPD esperado para um novilho com o peso vivo inicial de 300kg é de 0,479kg/dia e quando alimentado com a segunda mistura o GPD esperado é de 0,647kg/dia. Conclui-se que a melancia poderá ser utilizada na alimentação de novilhos. No entanto, se complementada só com uma forragem seca, apenas permitirá GPD inferiores a 0,7kg/dia.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
Comunicação da qual só está disponível o resumo.
O objectivo deste trabalho é estudar todas as comunidades seminaturais existentes na Quinta da Cruz - Viseu, por forma a elaborar uma proposta de gestão e conservação do espaço da Quinta, com uma vertente de educação Ambiental (EA). Deste modo, realizaram-se inventários florísticos para caracterizar as comunidades vegetais, baseadas na composição florística e na abundância/dominância das espécies. Foi também elaborada a carta de ocupação do solo, em ambiente ArcView, baseada na fotointerpretação e posterior verificação no campo. Com base em tudo isto, foi possível fazer uma proposta de gestão do Património Natural e Arquitectónico da Quinta da Cruz.
Sistemas de condução para os novos pomares de cerejeira.
Numa economia global cada vez mais competitiva, ganham as regiões que possam oferecer produtos com características diferenciadas. Têm sido tentadas diferentes estratégias de combate a doenças da pereira na região do Oeste, nomeadamente contra o pedrado (Venturia pirina Aderh.), o que revela bem a importância da investigação científica aplicada como motor de progresso regional. Com as diferentes estratégias de combate ao pedrado constatou-se ser possível obter um novo produto que, mantendo o aspecto anterior, apresenta baixo teor em resíduos fungicidas. É também possível optimizar a data do tratamento por forma a reduzir a incidência da doença em cada período de infecção.
Actividade profissional dos diplomados pela Escola Superior Agrária de Castelo Branco.