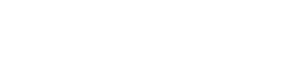Search results
1,005 records were found.
Se analiza la influencia sobre el peso al destete precoz, comprendido entre los 16 y los 35 días de vida, en corderos de raza ovina Segureña, de los efectos fijos sexo, época de nacimiento, zona geográfica y tipo de parto de la oveja. Se analizaron los datos del peso de 27083 corderos pertenecientes al registro histórico de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño – ANCOS – de los últimos 13 años. Fueron realizados análisis estadísticos en cada factor, basados en el test t para las medias, análisis de varianza y el test de Tuckey para analizar los grupos homogéneos. Se llevó a cabo un análisis de varianza multifactorial mediante la utilización del software IBM SPSS Statistics v.19, utilizando los factores no genéticos como efectos principales y considerando las interacciones dobles significativas. Los machos presentaron un peso promedio superior al de las hembras. El efecto de la época de nacimiento fue significativo (P<0,001), de forma que los corderos nacidos en primavera e invierno, presentaron un peso promedio superior. La localización geográfica no afectó el peso de los corderos (P>0,05). Sin embargo, el tipo de parto influenció el peso promedio de una manera muy significativa (P<0,001), poniéndose de manifiesto que los corderos nacidos de partos simples fueron más pesados que los corderos nacidos de partos múltiples. Las interacciones dobles época de nacimiento × tipo de parto, zona geográfica × época de nacimiento y sexo × tipo de parto fueron significativas (P<0,001) para el modelo, que se presentó con un coeficiente determinativo (R2) de 0,127. Como conclusión general puede indicarse que los factores no genéticos tienen un papel muy importante en peso de los corderos de raza Segureña en el destete precoz. El conocimiento de la influencia de estos factores podrá ser útil en el desarrollo de estrategias de producción para que los promedios totales del peso puedan ser mejorados.
Laboratório de Águas e de Águas Residuais.
Subterranean clover pastures (SC) have a higher nutritive value than Portuguese natural pastures (NP). However, this assumption does not include anti - quality factors and potential intake (determined by stocking rates - SR). Therefore, we tested the hypothesis that advantages of SC over NP are different if we consider feeding value (FV=nutritive value x intake x SR) instead nutritive value (NV) alone. Productivity of SC and NP was compared at Castelo Branco region, Portugal. Nutritive value components used for contrasts were: dry matter (DM), metabolizable energy, crude protein (CP) and ADF concentrations. Nutrient requirements of a merino ewe (50 kg live weight, 0.53 kg milk day-1 in 150 days) were considered.
Minimum levels assumed for daily intake were 1.48 kg DM with 21% ADF and 40% DM. NV results per se do not match with FV. Apparently, NV limits milk production only in the end of spring, due to CP%. However, considering FV and the limitations to intake, autumn and winter periods presented stronger limitations to sheep production on SC than NP. To achieve nutritional balance, SC demand more roughage per year and ewe than NP: roughage 90 kg vs 45 kg and less concentrate 11 kg vs 12 kg, respectively.
O Lobo-ibérico (Canis lupus signatus Cabrera, 1907) encontra-se, em Portugal nas regiões fronteiriças dos distritos de Viana do Castelo e de Braga, em Trás-os-Montes e parte dos distritos de Aveiro, de Viseu e da Guarda. Podem-se considerar duas subpopulações: uma a norte do rio Douro, em continuidade com a população espanhola e outra a sul daquele rio, muito isolada e com elevado nível de fragmentação.
Estatuto de conservação: em perigo (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 2005); legislação nacional especifica (Lei n.º 90/88, de 13 de agosto e Decreto-Lei n.º 139/90, de 27 de abril (revogado) e DL n° 54/16, de 25 de agosto), que lhe confere o Estatuto de Espécie Protegida.
Em áreas onde as presas naturais abundam, os prejuízos provocados pelo lobo nos efetivos de produção são pequenos ou quase inexistentes. A principal causa de conflito é, na regido de intervenção correspondente ao distrito da Guarda, a predação exercida pelo lobo sobre efetivos de produção e os prejuízos económicos daí resultantes.
A nogueira e uma espécie lenhosa produtora de frutos e, como tal, o sucesso de um pomar de nogueiras dependera, entre outros fatores, do sucesso da função reprodutora.
Deste modo, o conhecimento sobre os seus órgãos e hábitos de frutificação será imprescindível a quem pretenda dedicar-se à nucicultura, em particular nas decisões a tomar na fase de implantação, ao nível da polinização (dicogamia e escolha de polinizadoras), das cultivares (vigor, tipo de frutificação), dos sistemas de plantação (nível de intensificação, ocupação do terreno, colonização do espaço aéreo) e da poda de formação. Todas essas decisões irão ter reflexo na capacidade produtiva dos pomares, na longevidade e desenvolvimento harmonioso das árvores e, consequentemente, no rendimento dos produtores.
As nozes são dos frutos secos mais consumidos em todo o mundo. Possuem um elevado valor nutricional, apresentando a relação mais elevada de ácidos gordos ω3/ω6, entre todos os frutos secos. Contêm ainda vários compostos bioativos relacionados com a prevenção de diversas doenças. As evidências científicas atuais permitem a utilização de uma alegacão de saúde específica para a noz designadamente "As nozes contribuem para a melhoria da elasticidade dos vasos sanguíneos".
A raça ovina Churra do Campo derivou dos primitivos ovinos do tronco ibérico-pirenaico que povoaram todo o norte montanhoso da Península lbérica. Foi descrita por Sobral et al. (1987) como sendo uma raça de pequeno formato, dotada de extrema rusticidade, o que lhe permitia subsistir em zonas muito pobres de pastagens, na raia da Beira Baixa com Espanha, norte do concelho de Idanha-a-Nova, Penamacor e algumas manchas no concelho do Fundão. Explorada em regime extensivo, caracterizava-se pela sua tripla função carne, leite e lã, no entanto não revela nenhuma aptidão especializada (Sobral et al., 1987).
A raça ovina Mallorquina encontra-se localizada na Ilha de Mallorca (Espanha), com um censo, a 31 de dezembro de 2015, de 14635 reprodutores, e está considerada em perigo de extinção.
Esta raça, cuja produção principal é o cordeiro pascal e de leite, tem uma função importante na ilha sobre a conservação do meio ambiente pela sua clara adaptação ao meio.
O estudo do crescimento é uma ferramenta fundamental para o conhecimento da raça e está integrado no programa oficial de melhora genética.
Tendo em atenção a procura de soluções alternativas de construção em meios com difícil acesso e a utilização de materiais sustentáveis, o presente trabalho analisa o ciclo de vida de uma construção de adobe moldado, composta por paredes resistentes de sacos de terra, baseando-se num protótipo desenvolvido no Nhangau, na província de Sofala em Moçambique. Partindo duma matéria prima considerada frágil e caracterizando os materiais que servem de base para o presente estudo, demonstra-se as qualidades e a
sustentabilidade dos referidos materiais para a aplicação nas construções de baixo custo e onde o acesso aos materiais é difícil.
Não obstante o preconceito em relação a este tipo de construções associadas à pobreza e desprezadas pela sociedade, em Moçambique são correntes as construções com terra, sendo a tecnologia mais usual a de terra de recobrimento. Desta forma, é necessária uma consciencialização da população para a execução deste tipo de construções como forma alternativa para a melhoria das condições de habitabilidade.
A cultura da nogueira (Juglans regia L.) para exploração do fruto é uma prática de longa data em diversos países do mundo. As características organoléticas da noz que até aos nossos dias estavam na base do interesse comercial do fruto, enquanto elemento da dieta alimentar humana, têm vindo a ser alvo de um reconhecimento crescente nos últimos anos, por força do aumento da capacidade de análise dos constituintes do fruto bem como do conhecimento dos efeitos que estes podem exercer na saúde alimentar do Homem. Contribui ainda a favor da cultura da nogueira a grande diversidade de utilização dos seus produtos além da alimentação humana, designadamente na indústria farmacêutica, no fabrico de corantes, de licores e ainda na indústria da madeira e seus transformados.
No âmbito de um levantamento sobre a flora da Serra do Moradal, no intuito de se publicar um Guia Botânico da mesma, foram efetuadas diversas saídas de campo - durante o ano de 2015 - para caracterização, identificação e localização de espécies. No sítio da Fraga da Água de Alto, freguesia do Orvalho, considerada uma das maiores quedas de água da Beira Baixa, identificou-se uma significativa comunidade de azereiros, vestígios da Laurissilva. Dado o interesse conservacionista destas formações a nível europeu, efetuamos a sua caracterização. Para além disso, efetuamos algumas abordagens históricas, taxonómicas e morfológicas do Prunus lusitanica, bem como de alguns aspetos da sua propagação e utilizações mais comuns.
La raza bovina Marismeña es muy característica por estar localizada casi exclusivamente en el Entorno Natural de Doñana (Parque Natural y Nacional). Con objeto de caracterizar el crecimiento, se tomaron pesos individualizados de los animales durante los últimos cinco años. En total se recogieron 1771 pesos, 470 de machos y 1301 de hembras. Los datos fueron utilizados para hallar la curva de crecimiento con los modelos de Brody, Von Bertalanffy, Logístico y Gompertz. Para la elección del mejor modelo se usaron dos parámetros: el coeficiente determinativo (R2) y el cuadrado medio del error. El modelo más apropiado fue el de Brody tanto para machos como para hembras, con un R2 de 0,92 y 0,86, respectivamente. El modelo resultante fue: machos, peso = 633,95 * (1 - 9515 * exp (-0,0009 * edad)); hembras, peso = 387.60 * (1 - 0,9429 * exp (-0,0016 * edad)). La raza Marismeña mostró un lento crecimiento y un claro dimorfismo sexual, muy notable a partir de los 2 años de edad.
Na perspetiva de encontrar culturas alternativas e com valorização económica para os terrenos das zonas abrangidas pelo Regadio da Cova da Beira, e por solicitação empresarial e dos agricultores da associação de Regantes (ARCB), desenvolveu-se um projeto-piloto, conjunto, para a produção de plantas e frutos de pimento (Capsicum annuum L.) com o objetivo de obtenção de pimentão doce, vulgo colorau, cujos intervenientes foram sete agricultores da ARCB, a Escola Superior Agrária do IPCB, a CM de Penamacor e a empresa Ibersaco.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (DoD), sentindo necessidade de dispor de um sistema de posicionamento e navegação, com grande alcance, elevada precisão e segurança, liderou, a partir dos primeiros anos da década de 70, os estudos que levaram ao aparecimento de um sistema baseado na utilização de satélites artificiais da constelação NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging), que designaram por GPS (Global Positioning System).
Este "Sistema de Posicionamento Global" apresenta características que permitem a sua utilização a um número ilimitado de operadores, tanto militares como civis, aos quais garante, independentemente das condições ambientais, da hora, do dia e do local em que se encontrem, informações, em tempo real, com precisão muito elevada, para determinação da sua posição tridimensional, estática ou cinemática (latitude, longitude, altitude, velocidade e tempo).
O diagnóstico das causas de mortalidade acentuada dos sobreiros nos concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Idanha-a-Nova, veio contribuir para um conhecimento quantificado da situação destes ecossistemas. Foi assim possível avaliar a acção de vários factores relativos à situação fisiológica, ecológica, edafo-climática, sanitária, de exploração e de condução destes sistemas agro-florestais e também das interacções entre eles. Concluiu-se que a situação de declínio verificada é consequência da acção conjugada dos factores acima referidos, que actuam a médio/longo prazo e como tal difíceis de controlar. Consideramos também que o futuro destes ecossistemas, de grande importância económica e ecológica, depende eventualmente de um reordenamento do espaço por eles ocupado, o qual deverá ser definido por condicionantes de ordem não só florestal mas também de opções agrícolas e sócio-económicas que conduzam a um desenvolvimento sustentado das zonas de montado.
Considerando que as regiões com características edafoclimáticas acentuadamente mediterrânicas se encontram em maior risco de desertificação, o montado de azinho, com as suas características e especificidades, é o sistema humanizado mais adequado a suster este processo e o que melhor valoriza os respectivos solos.
Importa assim conservar o actual património que se encontra em acelerada degradação.
Os incêndios florestais, ao destruírem a vegetação, aceleram o processo de destruição dos solos; a baixa ocorrência de incêndios em montado tem levado ao esquecimento do estudo dos efeitos do fogo nesta formação.
Embora o montado de azinho não se apresente como um ecossistema propício à ocorrência de incêndio, o seu efeito não é, contudo, negligenciável, sendo de todo o interesse avaliar a sua acção sobre os solos.
Uma das principais preocupações actuais por parte dos responsáveis pela gestão dos recursos naturais é a que se refere à conservação do solo. Os processos erosivos e a lixiviação de nutrientes como consequência da ausência de vegetação após os incêndios constituem o primeiro objectivo deste estudo para que, deste modo, se obtenham conhecimentos conducentes à aplicação de uma adequada gestão do solo florestal.
O enorme atraso verificado, nas últimas décadas, no sector agrícola nacional, provocou que, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, se desse uma especial atenção à estrutura fundiária existente, nomea¬damente às suas infra-estruturas físicas.
Inserido no Programa Especifico de Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa - PEDAP, que vigorou de Janeiro de 1986 a Dezembro de 1993, surgiram vários subprogramas destinados à construção e/ou beneficiação de infra-estruturas, destacando-se os seguintes: i) Acção Florestal (PAF), ii) Caminhos Agrícolas e Rurais, iii) Electrificação das Explorações Agrícolas e iv) Irrigação (englobando 6 subprogramas).
O número de projectos apresentados, assim como as verbas envolvidas, foram enormes, conforme se pode verificar na tabela 1.
À semelhança do resto do País, também na Beira Interior houve urna grande capacidade de concretização de projectos como demonstram bem os seguintes números exemplificativos:
- mais de 400 Km de caminhos agrícolas/ rurais;
- mais de 900 Km de rede viária florestal;
- mais de 300 Km de aceiras;
- cerca de 100 barragens florestais.
As infra-estruturas criadas para esta região totalizaram um investimento de cerca de 16 milhões de contos.
Com a recente aprovação comunitária do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) para o nosso País, pretende-se que a área das Infra-estruturas Rurais/Florestais seja novamente uma parte integrante prioritária da componente agrícola daquele Plano. Em seguida, apresentar-se-ão algumas considerações versando apenas a problemática das infra-estruturas florestais.
De acordo com a OCDE (1983), “a riqueza de um país reside na qualidade e na formação dos seus homens e mulheres". É o mesmo que dizer que o futuro do nosso país depende largamente da eficácia do sistema educativo, da sua capacidade de se adaptar ao mundo moderno e das suas faculdades de inserção numa
sociedade e numa economia em mudança.
Os estudos de diagnóstico sobre a inserção profissional poderão contribuir para a solução de alguns problemas ou para o esclarecimento de algumas situações, como por exemplo:
- o desemprego dos jovens;
- a gestão e acompanhamento da passagem da escola para a vida activa e de todas as consequências depreendentes dos programas de formação;
- a concepção de um ensino ou formação orientado para aumentar a produtividade do trabalho;
- o fornecer de informações relativas à procura de mão de obra não disponível no mercado de trabalho, bem como explicar o funcionamento deste mercado;
- a avaliação dos efeitos previsíveis que as inovações técnicas terão sobre o mercado de trabalho (OCDE, 1983).
A dificuldade de fazer previsões de emprego por especializações ou qualificações é um facto que existe, não só pelo aspecto metodológico (não existindo metodologias que satisfaçam plenamente), mas também pelo facto de nos países industrializados a aceleração da mudança tecnológica afectar um grande número de empregos e modificar, por vezes de forma radical, as competências e qualificações requeridas (Bretrand, 1992).
Para que o planificador da formação possa maximizar os investimentos, é-lhe necessário saber com precisão como é que este sistema de formação interage com o mercado de trabalho e o modo mediante o qual este absorve os que saem das escolas profissionais, escolas superiores, universidades, etc. Surge, assim, a necessidade de um diagnóstico, que se estruturará repartidamente por diversas áreas, nomeadamente, sobre a eficácia externa do sistema de formação (adaptação da formação às necessidades do mercado de trabalho) e sobre a necessidade de formação.
Em termos conceituais, surge-nos aqui a necessidade de definir o que é o diagnóstico e quais as atitudes perante a sua execução. Segundo a Unesco (1987), "diagnóstico é, antes de mais, um conhecimento. Em matéria de planeamento é a investigação, a análise da natureza ou da causa dum problema ou duma situação". No seu estado final, o diagnóstico inclui igualmente a formulação dos resultados dessa análise, bem como a exposição de conclusões. O diagnóstico baseia-se na investigação e na análise, pelo que tem poucos pontos comuns com o julgamento, com a impressão pessoal, com a apreciação subjectiva ou com a opinião, por bem formada ou fundamentada que seja. A tomada de decisão requer, pois, uma abordagem mais científica e objectiva, susceptível de captar a realidade total na sua complexidade, de apreender ao mesmo tempo o conjunto dos elementos que entram em jogo numa dada situação e de pôr em evidência múltiplas interacções que se estabelecem entre estes elementos.
O crisântemo (Chrysanthemum spp.), planta da família das Compostas, originária do Extremo Oriente, é considerada a flor nacional do Japão (Gancia, 1981).
Chrysanthemum hortorum é a denominação científica criada para denominarmos vários híbridos resultantes de cruzamentos entre o C. indimus, o C. morifolium (= C. sinensis) e o C. articum, ou seja, representa todos os crisântemos vivazes de Outono (Onis, 1975).
Na região de Castelo Branco, à semelhança do que acontece na generalidade do país, esta planta assume particular importância no Outono, por altura do dia de Finados, sendo porventura a flor mais utilizada nos nossos cemitérios para ornamentação das sepulturas. Daí que seja depreciada no resto do ano, no que respeita fundamentalmente ao tipo de flor grande (Veloso et al., s/d).
Dado o carácter vincadamente sazonal desta produção, com elevada procura durante poucos dias, e a programação da produção tem, nesta cultura, um papel fundamental na valorização do produto.
Segundo Tesi (1985), na base desta programação cultural deve existir um perfeito conhecimento das exigências climáticas e culturais da espécie ou cultivares, o domínio perfeito das tecnologias de forçagem e das possibilidades de mercado.
Sendo a plantação de crisântemos para floração no dia de Finados feita no início do Verão, o principal objectivo deste trabalho foi a comparação de 3 datas distintas de plantação, com a finalidade de estabelecer a época de plantação mais favorável e, também, o estudo de alguns métodos de conservação.
As brássicas são cultivadas no mundo inteiro numa área superior a 2 milhões de ha, cabendo aos 15 países da Comunidade Europeia, cerca de 267.000 ha, num total de 422.000 ha para toda a Europa (F.A.O., 1992).
Em Portugal mais do que em qualquer país da Europa, as plantas cultivadas do género Brassica têm um papel preponderante. A produção hortícola nacional é caracterizada pela grande produção e consumo de couves, sobretudo couve-lombarda, repolho, brócolo e couve portuguesa. O consumo de couves em Portugal é um dos mais elevados com cerca de 750.000 t/ano, o que corresponde a uma capitação de aproximadamente 75 Kg/ano (Portas e Costa, 1977). O maior consumo é da couve lombarda, próximo dos 42 Kg/hab./ano, seguido da couve portuguesa com cerca de 19 Kg/hab./ano. Rosa (1991) sugere que estas capitações são variáveis de região para região, podendo nalguns casos atingir valores mais elevados ou favorecer a couve portuguesa em detrimento da couve lombarda, coma acontece na regido de Trás-os-Montes.
O míldio das crucíferas é uma doença causada pelo fungo Peronospora parasitica (Pers. ex Fr.) Fr. sendo bastante importante nas brássicas cultivadas em Portugal, já que existem condições favoráveis de temperatura e humidade para o seu desenvolvimento durante grande parte do ano.
Integrado no projecto comunitário intitulado "The location and exploitation of genes for pest and disease resistance in European gene bank collections of horticultural brassicas" em que colabora a Secção de Horticultura do Departamento de Produção Agrícola e Animal (D.P.A.A.) do Instituto Superior de Agronomia (ISA), houve a necessidade de estudar o agente patogénico causador do míldio das crucíferas, o fungo Peronospora parasitica. Este estudo foi tema de dissertação final do Mestrado em Produção Vegetal sob a orientação do Professor Doutor António Almeida Monteiro.
Aproveitando o trabalho de dissertação desenvolvido sobre o fungo responsável pelo míldio das crucíferas, pretende-se analisar no âmbito da teoria de Sistemas de Agricultura e na óptica de Ferris cit in Portas (1993) o subsistema Peronospora parasitica no sistema planta-fungo.
A abordagem do tema utilizando a teoria dos sistemas é neste caso geral. Spedding (1979) considera a relação planta-fungo um sistema biológico. Este sistema só será relevante para a agricultura, se representar um subsistema da globalidade dos sistemas de agricultura. Neste artigo, é apresentada uma proposta para um modelo explicativo da interacção dos elementos numa geração de Peronospora parasitica e com base nela um diagrama de fluxos.
Pela necessidade de reconversão varietal do pomar de cerejeira na Cova da Beira, tentou-se numa 1ª fase fazer o levantamento da situação actual através da realização de um inquérito aos produtores, para que de um diagnóstico correcto resultasse uma microzonagem da região como ponto de partida. Numa 2ª fase tenta-se introduzir no pomar já existente, novas técnicas culturais, como a poda e a rega por exemplo, para que simultaneamente com a execução da experimentação de novos porta-enxertos e cultivares, se possa atingir "conscientemente" a 3ª fase, a da replantação.
O fogo é um factor ecológico de grande importância em muitos ecossistemas, dele dependendo varias das suas características. Algumas plantas e animais são muito suscetíveis aos efeitos do fogo, enquanto outras se mostram muito tolerantes. Devido a estas diferenças das espécies na resposta ao fogo, nós podemos por vezes usá-lo para manipular os ecossistemas, para os modificar para nossa conveniência.
O uso do fogo envolve a escolha da melhor altura, local e tipo de fogo para que sejam atingidos os efeitos desejados. Esses efeitos desejados são consequência dos objectivos de gestão. Os diferentes usos do fogo podem, portanto, ser descritos de acordo com os seus objectivos.
Pode ser usado na obtenção de uma variedade de objectivos, dependentes da situação concreta. O fogo controlado é usado em grande escala em muitos países, mas o seu uso extensivo é limitado por considerações sociais e políticas, pela necessidade de proteger bens e vidas humanas e, muitas vezes, pelos seus custos.
Provas Públicas apresentadas à Escola Superior de Educação para concurso de acesso à categoria de Professor Coordenador para a área científica de Educação Física.
Várias reformas e até projetos de reforma do ensino português fazem parte da historiografia educativa do século XIX, com o começo do sistema em 1936 e, perlongando-se no século XX com propostas renovadoras republicanas, estagnação da educação no Estado Novo salazarista, alguma abertura no período de Marcelo Caetano com a Proposta de Reforma de Veiga Simão e, posteriormente as mudanças operadas após o 25 de Abril de 1974 que convergiu para a promulgação da Lei de Bases do sistema Educativo de 1986. Houve um desfasamento entre as intenções reformadoras (legislação avulso) e a realidade educativa concreta, constituindo um indicador comum, unido ao elevado analfabetismo na população, ao longo deste período de estudo (séc. XIX e XX), com políticas de centralização e descentralização da política educativa. O sistema educativo português passou por uma construção retórica da educação, em que o estado promulgava preceitos legais que eram difíceis de implementar. Por isso no ´Século da Escola’ houve projetos de reforma que fracassaram sucessivamente, desde Rodrigo da Fonseca (1835), a Passos Manuel (1836) a João Camoesas (1923 e, posteriormente a Lei Veiga Simão (1973). Toda esta oscilação renovadora, aliada à dificuldade de sustentabilidade das autarquias em manter a rede escolar, ao défice de formação de professores no âmbito das pedagogias modernas, levou o país a alcançar baixos níveis educacionais no contexto europeu. Décadas e décadas de falta de investimento na educação, as convulsões políticas, as cegueiras ideológicas, as crises económicas, o retrocesso do ensino no período salazarista, etc. deixaram um sistema escolar desfasado e retrogrado a uma culturalização da população e direito à educação. O estudo aborda historiograficamente o sistema escolar português, desde o século XIX até 1974, passando por uma análise à instrução pública no período do liberalismo, Monarquia Constitucional, 1.ª República, Estado Novo e terminando com os novos ares de mudança com o 25 de Abril. O ensino oficial e a escola pública (primária) constituem as balizas da memória histórica desta análise educativa.
O autor destaca, numa abordagem histórico-educativa, as tendências pedagógicas, as reformas do ensino e os projetos de lei (sem aprovação) relacionados com a evolução do sistema escolar português desde do século XIX até ao 25 de Abril de 1974. Esta análise evolutiva dedica uma atenção especial à instrução primária e aos seus professores. Os diplomas e/ou normativos jurídicos e planos de ensino publicaram-se num ritmo alucinante, muito dependente do contexto e contingências de cada época, das conjunturas político-ideológicas, económicas e sociais, apesar de se deixar na ‘gaveta propostas de qualidade, como por exemplo, a Proposta de Reforma do Ensino de João Camoesas (1923), cujo mentor foi Faria de Vasconcelos. De facto, a instrução pública primária esbarrou com enormes dificuldades ao longo dos tempos, mas foi aquele nível de ensino que mais se ajustou às inovações e renovações pedagógicas, com experiências didático-curriculares de interesse, exceto no Estado Novo, onde a continuidade do livro único foi uma norma. Ao longo desse período de estudo a realidade da instrução confrontou-se com muitos problemas, por exemplo: o elevado analfabetismo infantojuvenil; inconstância entre centralismo e descentralismo do sistema educativo; a falta de uma rede escolar mais alargada e consistente; uma organização escolar mais eficaz; um défice de formação de professores no âmbito das pedagogias modernas; problemas económicos de sustentabilidade do sistema por parte das autarquias; etc. O texto está dividido em quatro pontos insistindo sobre a instrução primária, a análise às reformas educativas liberais e republicanas no ensino primário, a preocupação pela educação das crianças, o período da educação no salazarismo; e os novos aires de mudança do sistema educativo, após 1974.
Apresentar-se-ão dados referentes à comercialização das Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM) a nível internacional comparando-os em simultâneo com o que se passa a nível nacional. Relativamente aos mercados, existem fundamentalmente dois tipos de mercados e indústrias que utilizam as PAM, por um lado, temos circuitos de comercialização muito curtos com utilização dos produtos no mínimo da sua transformação. For outro lado, temos indústrias e mercados que utilizam compostos muito específicos implicando extracções e técnicas muito complicadas. Assim serão apresentadas sugestões para uma maior implantação deste sector no nosso País. Por fim analisar-se-ão os resultados provenientes de um inquérito Nacional levado a cabo no âmbito do Projecto PAMAF IED "Plantas aromáticas e condimentares. Selecção e avaliação de usos tradicionais e aplicações alternativas em agroindústrias", para a definição dos circuitos internos de comercialização.
O sector florestal em Portugal Continental assume uma grande importância no meio agrário nacional uma vez que cerca de um terço do continente se encontra ocupado por floresta. A floresta deve ser entendida como um factor beneficiador da qualidade do ambiente, protector e melhorador dos solos em que se encontra implantada. Além destas virtudes que por serem difíceis de contabilizar são por vezes menosprezadas, a floresta é sem dúvida um factor de desenvolvimento económico pelos produtos que dela se extraem. Estes produtos através dos diversos ramos de actividade florestal contribuem para o desenvolvimento económico das regiões em particular e do país em geral.
No entanto, a floresta portuguesa apresenta algumas particularidades que lhe são inerentes: a maior parte da floresta é privada e encontra-se fragmentada em propriedades de pequena dimensão, cujos donos, na sua maioria, se consideram descapitalizados e como tal pouco dispostos a intervir na floresta. É a estas características que normalmente é atribuída a responsabilidade do estado da floresta portuguesa, considerada subaproveitada, geradora de baixos rendimentos e desprovida de qualquer tipo de ordenamento (IF, 1994; DGF, 1992).
Com a perspectiva de integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, foi definido
para a fase de adesão o Programa Específico para o Desenvolvimento da Agricultura Portuguesa (PEDAP), o qual incluía um subprograma afecto à floresta, o Programa de Acção Florestal (PAF) cujo período de implementação decorreu entre 1987 e 1993. Posteriormente à implementação do PAF, surgiram novos programas decorrentes da aplicação de programas Comunitários (CEE 2080 e PAMAF), os quais estão ainda em fase de implementação.
A determinação do conteúdo proteico em leites é uma prática comum dada a importância de que se reveste para programar a transformação do leite nos seus respectivos derivados (queijos, iogurtes, etc.). Alguns dos métodos que têm sido utilizados fornecem como informação o conteúdo proteico total sendo por isso bastante limitativos. É o caso do método de Kjeldahl (que exige destruição da amostra) e do método da espectrometria do infravermelho (Marth, 1978). Há outros métodos, porém, como a electroforese em gel de poliacrilamida (McLean et al., 1982) e as técnicas cromatográficas mais modernas como o HPLC (cromatografia líquida de alta resolução) (Bican e Blanc, 1982), bem assim como o FPLC (rápida cromatografia líquida de proteínas) (Andrews et al., 1985) que além de serem muito sensíveis permitem conhecer rapidamente o conteúdo individual das várias proteínas. Contudo não têm sido utilizados rotineiramente na indústria leiteira, provavelmente, além de outros razões, por exigirem instrumentação sofisticada e de elevado custo.
Nas últimas décadas, técnicas imunológicas têm também merecido uma atenção muito cuidadosa no sentido de serem aplicadas a leites e seus derivados. Têm-se mostrado muito úteis, pois além da sua sensibilidade, especificidade e rapidez exigem instrumentação mais acessível à maioria dos laboratórios. É o caso da imunoelectroforese (Hanson e Mansson, 1961; Hanson e Johansson, 1970), da técnica radioimunológica (Beck e Tucker, 1977), do ELISA (imunoanálise com enzima ligada) (Lefler e Colin, 1982; Rittemburg et al., 1984) e da imunonefelometria convencional.
A imunonefelometria clássica constitui-se num método imunoanalítico baseado na quantificação nefelométrica da reacção antigénio-anticorpo. Embora seja uma técnica de fácil manuseio e tenha sido utilizada amplamente para a análise de proteínas em vários sistemas biológicos (Sieber e Cross, 1976; Schliep e Felgenhauer, 1978; El Hamoui et al., 1982), apresenta um baixo índice de detecção se a compararmos com os métodos, também imunológicos, que utilizam marcadores, como os aplicados em radioimunologia e em imunoenzimologia. Além disso exige pré-tratamento das amostras.
Mais recentemente foi desenvolvida a técnica da imunonefelometria em micropartículas por investigadores do Laboratório de Imunologia da Faculdade de Medicina de Vandoeuvre-les-Nancy em França e do Laboratório de Bioquímica Aplicada da Faculdade de Ciências da mesma cidade. As aplicações dessa técnica à análise biomédica e de proteínas de leite têm-se sucedido a ritmo crescente nos últimos anos pois é superior à imunonefelometria convencional, pelas características que lhe têm sido referidas (sensibilidade, reproductibilidade, facilidade de execução, rapidez e ausência de qualquer pré-tratamento das amostras).
A descrição súmaria dos fundamentos dessa metodologia e a apresentação de algumas aplicações à determinação de caseínas de leites e de queijos constituem o obectivo deste trabalho de divulgação.
O estudo analisa as potencialidades da utilização da biomassa residual proveniente do Parque Natural de Montesinho (PNM) e Serra de Nogueira (SN) como fonte de energia para produção simultânea de água quente e electricidade (cogeração) na cidade de Bragança. Neste âmbito, estimou-se a quantidade de resíduos existentes no PNM e SN, integrando o conceito de exploração sustentada com a preservação do equilíbrio ecológico da área em estudo.
As áreas florestais foram determinadas através de mapas e, algumas delas, confirmadas no local. Determinou-se uma área florestada de 22 530 ha, correspondendo a uma produção estimada de resíduo de 34 000 ton secas/ano que, admitindo uma eficiência de recolha de 60% originaria 20 400 ton/ano de resíduos secos correspondendo a uma substituição de energia fóssil primária de 8,9 ktep.
O consumo de energia fóssil para a obtenção da biomassa é de 5,6% ± 0,8 da energia fornecida por esta, sendo fortemente condicionado pelas condições de exploração das máquinas nomeadamente na manutenção preventiva.
O custo horário da produção de resíduo estimado é 170 ± 10% contos, estando este valor dependente do processo de estilhagem adoptado. Este montante, traduz-se num custo unitário de 12$25 ± 10% por kg anidro e a um custo por unidade de energia produzida de 2$45 ± 10% por kWh medido pelo Poder Calorifico Inferior (PCI).
O investimento necessário para a montagem da fileira integrada de recolha e abastecimento de resíduos de biomassa, excluindo os custos para a central de combustão, é de 262,5 ± 10% mil contos.
O emprego criado é de 53 ± 4 postos de trabalho (PT) sustentados, gerando receitas anuais superiores a 100 mil contos, sendo necessários cerca de 5 mil cantos de investimento por PT criado correspondendo a 6 a 7 PT por ktep substituído.
Desde 1991 que a Queijaria Experimental do Laboratório de Apoio Regional da Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior tem vindo a desenvolver um Programa Experimental para as Queijos da Beira Baixa. Como objectivo prioritário deste programa estabeleceu-se o aperfeiçoamento da tecnologia de fabrico do Queijo de Castelo Branco. Assim, respeitando as características artesanais da sua produção, pretendeu-se criar um processo racional, capaz de responder à necessidade de redução da mão-de-obra, melhorar as condições higio-sanitárias a nível da produção, garantir uma homogeneidade do produto final e responder às exigências legais, definidas para este tipo de queijo. A estrutura principal da tecnologia de fabrico está definida tendo já sido adoptada por algumas queijarias da sub-região do Queijo de Castelo Branco. Os ensaios realizados permitiram obter resultados que vão ao encontro dos objectivos propostos, no entanto, será necessário futuramente particularizar o estudo no que respeita determinadas fases do processo. Quanto aos queijos em estudo verificamos que estes apresentam as características típicas do queijo de Castelo Branco.
No desenvolvimento deste estudo aplicaram-se diversas metodologias de calculo tais como dias disponíveis, reacção das alfaias, características de tracção do tractor, capacidades reais de trabalho e custos horários. Estas, aliadas aos meios informáticos actuais, transformam-se em ferramentas extremamente úteis e eficazes no dimensionamento de um parque de máquinas. Elaborou-se um programa informático em linguagem FORTRAN que contempla a metodologia de cálculo do dimensionamento do parque de máquinas, a qual designamos de S.O.M.A. (Selecção Optimização Maquinaria Agrícola).
O S.O.M.A. é constituído por 4 subprogramas, não tendo os seus resultados ligação directa aplicada entre si. No entanto esses resultados convergem todos para a concretizarão do objectivo principal, que é a selecção da máquina/alfaia que melhor sirva uma determinada situação. Realizou-se um ensaio de campo numa parcela de 2.4 hectares da Escola Superior Agrária de Castelo Branco em que foram acompanhadas várias operações culturais, com o objectivo de comparação dos resultados observados com os simulados pelo programa S.O.M.A. Dos registos efectuados, o cálculo dos dias disponíveis apresenta o maior erro relativamente aos valores observados; nos restantes métodos parcelares de cálculo o erro verificado é mínimo, o que traduz a validade desta metodologia como ferramenta útil no dimensionamento do parque de máquinas.
Provas públicas apresentadas à Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do Título de Especialista em Proteção de Pessoas e Bens.
O presente Livro de Resumos apresenta, em português e inglês, os contributos partilhados no I Encontro “Supervisão e Avaliação na Vida das Escolas” e no II Seminário Internacional de Educação em Ciências, que decorreram, em conjunto, na ESE de Castelo Branco nos dias 8 e 9 de junho de 2018. A decisão de juntar dois encontros científicos resultou do sentir que a complexidade do tempo, acelerada pelo desenvolvimento científico e tecnológico, também gere a Vida das Escolas, dando, assim, relevo e fundamento a qualquer que seja o âmbito e o grau de flexibilização e de integração de saberes.
A finalidade dos eventos traduziu-se em criar oportunidades de diálogo produtivo e construtivo entre todos os participantes através do confronto de estudos e experiências diversificadas, que os Resumos traduzem.
O Encontro "Supervisão e Avaliação na Vida das Escolas" teve como objetivo contribuir para o avanço e debate das teorias e para a partilha de experiências inovadoras nas práticas de supervisão, avaliação e áreas conexas, em todos níveis e áreas de educação e ensino. O II Seminário Internacional de Educação em Ciências centrou-se no objetivo de juntar a comunidade de Educação em Ciências na procura de novos desafios e novos sentidos da aprendizagem, do ensino e da formação, em todos os contextos onde se aprende, ensina e forma em e para a ciência e a tecnologia.
Com base numa exposição interativa construída no âmbito de um Projeto Ciência Viva "Problemas com conta, peso e medida", o livro apresenta uma proposta de exploração de um friso histórico relativo à evolução das medidas em Portugal (das origens à atualidade) e de problemas sobre antigas unidades de medida para cinco grandezas físicas (comprimento, área, volume, capacidade e massa) com resoluções manipulativas.
Provas públicas apresentadas à Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco para o cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do título de Especialista.
Trabalho apresentado à Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco para prestação de provas públicas conducentes à atribuição do título de Especialista.
Ferramentas de apoio à gestão da floresta de pinheiro bravo.
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2013
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2016
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior Dr. Lopes Dias
Dissertação apresentada à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco para obtenção do grau de Mestre em Ensino de Música - Formação Musical e Música de Conjunto
Frequencia cardiaca
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012.
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior De Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior De Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos.Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2013
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2012
Dissertação de Mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco, 2013
Hipertensão arterial
Dissertação de mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2014
Trabalho final apresentado com vista à obtenção do grau de licenciatura em cardiopneumologia, 2014
Dissertação de mestrado em Cuidados Paliativos apresentada à Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Dissertação de mestrado em Cuidados Paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2014
Dissertação de mestrado em cuidados paliativos. Instituto Politécnico de Castelo Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2012