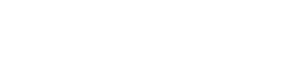Explicação da doença psicossomática
Dézaguy, Augusto
Search results
6 records were found.
Neste estudo foram avaliados os efeitos da rega e da fertilização azotada sobre a produtividade do trigo mole na região do Alentejo, Sul de Portugal, em 2018. Testaram-se 3 tratamentos de rega e 8 tratamentos de tipo/fracionamento do fertilizante azotado. Os tratamentos de rega foram: R1 (rega com reposição de 100% da evapotranspiração cultural-ETc); R2 (rega com reposição de 100% da ETc apenas em quatro períodos: início do encanamento, emborrachamento, ântese, enchimento do grão); R3 (sequeiro). Os tratamentos de fertilização azotada incluíram 4 tipos de adubos (clássico; de libertação controlada; com inibidor de nitrificação; com inibidor da urease) aplicados totalmente à sementeira ou fracionados ao longo do ciclo. O ano hidrológico de 2017/2018 decorreu de forma anómala no que respeita à distribuição e volume de precipitação. Nas modalidades R1 e R2 apenas se verificaram dois pequenos períodos de stress hídrico na fase inicial da cultura. Na modalidade R3, verificaram-se períodos mais prolongados de stress hídrico e em maior número, que coincidiram com o final da fase de afilhamento e na fase de enchimento do grão. No que respeita à avaliação agronómica, não se verificaram efeitos significativos dos factores em estudo em qualquer dos parâmetros analisados, nomeadamente na produção de grão e seus componentes. Este conjunto de resultados reflecte o comportamento bastante semelhante do balanço de água no solo nas três modalidades de rega em estudo, como consequência da forma anormal como decorreu o ano hidrológico em causa. A fertilização com adubos específicos e com aplicações de 50% do azoto numa fase avançada do ciclo do trigo, deixam claro que aplicações mais tardias de azoto promovem o aumento de proteína no grão.
Este trabalho de investigação pretende mostrar a visão dos docentes/investigadores do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) sobre a biblioteca digital b-on, designadamente se conhecem, utilizam, como acedem e com que frequência, como a classificam quanto ao conteúdo e qual o grau de complexidade que lhe imputam. A
sua realização fundamenta-se na necessidade de compreender a razão pela qual os níveis de utilização da b-on no IPCB são baixos e, em sequência, desenvolver estratégias que ajudem a melhorá-los. Para realizar o estudo foi distribuído um inquérito por questionário a todos os docentes/investigadores (n=288) do IPCB tendo-se obtido uma amostra de 33,7%. Os docentes/investigadores foram agrupados segundo as áreas científicas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), considerando a área de investigação.
Os dados foram tratados com o programa SPSS. Determinaram-se percentagens e, em
alguns casos, calcularam-se média e desvio padrão. 94,0% dos respondentes conhecem a b-on, embora apenas 82,9% indique utilizá-la. Em regra, os docentes/investigadores classificam-na com valores superiores a 3,5, numa escala de 1 a 5 e, maioritariamente, indicam os artigos científicos como a tipologia de documentos que mais utiliza. A b-on é a segunda ferramenta mais utilizada para localizar documentos científicos, e é a mais utilizada para descarregar documentos científicos. 89,6% referiram mais formação para utilizar bem o recurso e 57,0% indicaram
que a formação deve ser obrigatória. Conclui-se que a maioria dos docentes conhece e
utiliza a b-on, mas a frequência de utilização é baixa. Verifica-se também que os docentes que não utilizam ou que utilizam menos são da área Científica das Ciências Sociais e das Humanidades incluindo as Artes (CSHiA) o que pode estar relacionado com a disponibilidade de conteúdos. Constata-se ainda que a b-on é uma ferramenta dotada de complexidade na medida em que a maioria dos docentes/investigadores consideram a necessidade de formação para bem a utilizar e que deve ser o bibliotecário a ministrá-la.
Este trabalho consiste no desenvolvimento e validação de modelos de Machine Learning para a otimização de um sistema de rega de precisão utilizando algoritmos de classificação. A finalidade é atribuir a cada solo,
localizado a sul do concelho do Fundão, Portugal, uma classe de aptidão para o regadio, classes essas que identificam as zonas regáveis, não regáveis bem como as que precisam de intervenção para serem regadas. Os dados dos casos de estudo foram anteriormente recolhidos por uma aluna de Mestrado da Escola
Superior Agrária do IPCB (Portugal), onde incluíam vários condicionalismos (características dos solos que podem condicionar a aptidão para o regadio). A análise exploratória dos dados permitiu utilizar apenas os valores dos resultados relativamente às características dos solos que podem condicionar a aptidão para
o regadio rejeitando assim todo o cálculo efetuado para a obtenção dos mesmos. Desta forma os dados do caso de estudo foram enriquecidos com esta informação para a aplicação nos algoritmos de Machine Learning. Em geral, o facto de retirar estas características que não revelavam impacto no estudo ajudaram a melhorar os modelos de classificação bem como a sua precisão. Diferentes algoritmos de Machine Learning foram desenvolvidos, testados e validados, tais como, Support Vetor Machine, kNN, Árvore de Decisão, Naive
Bayes e Regressão Logística, para otimizar um sistema de rega de precisão de modo a atribuir uma a classe de aptidão de rega a novos solos introduzidos. A comparação dos modelos demonstrou que o método Naive Bayes é o que apresenta uma melhor precisão na altura de gerar uma classe de previsão.
Num território como o do município de Vila Velha de Ródão, que alia a sua pequena dimensão espacial à baixa densidade populacional, é natural que os autarcas experienciem uma maior proximidade com os seus munícipes e, de alguma forma, se sintam mais vinculados à perspetiva de lhes corresponder aos anseios. Obviamente que a gestão do município, e principalmente na vertente que diz respeito ao desenvolvimento sustentado do mesmo, não tem sentido ocorrer de forma casuística, deverá, portanto, ocorrer de forma organizada e sistemática, assente em planos estratégicos orientadores das intervenções numa lógica de médio, longo prazo. No âmbito e no contexto referidos, foi elaborado em 2004 um Plano Estratégico para o município de VVR, o qual foi validado pelos órgãos competentes da autarquia, que posteriormente o foi implementando, através do seu envolvimento em projetos que decorriam direta ou indiretamente do plano traçado. Assim, e passado período previsto para a implementação, e verificada uma elevada taxa de execução relativamente as propostas contidas no plano estratégico, a autarquia optou por envolver-se na elaboração de um segundo plano estratégico, dando seguimento à dinâmica então criada. Apesar de não ter sido feito qualquer estudo relativamente à eficácia da metodologia seguida pela equipa técnica que produziu o primeiro plano estratégico, temos a convicção que parte do o sucesso do mesmo se deve ao formato metodológico seguido na sua elaboração, muito centrada na auscultação e envolvimento direto dos cidadão e atores de relevo na comunidade. Daqui ter-se optado, na elaboração do segundo plano estratégico por uma abordagem metodológica semelhante. Este foi objeto de discussão e aprovação por parte da autarquia perante a equipa técnica, ficando-se na expectativa de verificar se a população se mantinha recetiva e participativa como no primeiro Plano e, ao mesmo tempo tentar, por um lado, verificar até que ponto se sentiram vinculados ao longo do tempo, por outro lado, verificar níveis de entusiasmo e convicção que alimentassem o seu envolvimento/participação o processo de elaboração do segundo Plano Estratégico. Por parte da autarquia foi assumido um papel informativo e incentivador junto dos cidadãos e atores locais no sentido de promover a participação dos mesmos em cada momento solicitado pela equipa técnica, para a realização de entrevistas individualizadas e reuniões em grupo. As linhas de orientação residiram essencialmente na disponibilidade ouvir e sentir os munícipes, numa lógica de enquadramento proactivo relativamente aos recursos e potencialidades do território, com vista à promoção do seu desenvolvimento equilibrado.
A erosão hídrica do solo está estreitamente relacionada com o comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. Estas são, actualmente, as unidades territoriais básicas das actividades de investigação, planeamento e de elaboração de normativas. O objectivo deste estudo é analisar o comportamento hidrológico e a dinâmica dos sedimentos produzidos ao nível de uma pequena bacia hidrográfica experimental. A bacia de estudo localiza-se no concelho de Idanha-a-Nova, cobrindo uma área de 189 ha. O clima é tipicamente mediterrânico; o terreno é pouco declivoso; as unidades de solo predominantes são Cambissolos e Luvissolos. Na secção de referência da bacia foi instalada uma estação hidrológica, em funcionamento desde 2008. Os modelos de simulação configuram-se como valiosas alternativas para avaliar os efeitos da actividade agrícola na qualidade do solo e da água. O modelo AnnAGNPS foi o selecionado para este estudo. A produção de sedimentos ao nível desta unidade territorial não mostra dependência clara do volume de escoamento num determinado evento, excepto quando a energia contida é suficiente para destacar e arrastar as partículas do solo para fora da bacia hidrográfica. Por outro lado, a perda de solo das parcelas agrícolas não depende somente do escoamento superficial, mas também da forma de cobertura e gestão do solo. A forma da histerese (positiva ou negativa) da curva que relaciona caudal e concentração de sedimentos, relativa à totalidade do hidrograma do evento de escoamento, é indicativa da rapidez com que os sedimentos chegam à rede de drenagem natural, e à secção de referência da bacia hidrográfica.
As reservas naturais de rocha fosfatada têm sido a matéria-prima tradicional dos fertilizantes fosfatados, estimando-se que 80% de quantidade explorada se destina à produção de adubos minerais para uso agrícola. O aumento da população mundial, e o consequente aumento na procura de alimentos, tem conduzido a um aumento crescente no consumo de fósforo. Deste
modo, a continua exploração deste recurso não renovável irá realizar-se sucessivamente em depósitos com menor concentração de fósforo, e com maior teor de impurezas, como por exemplo teores mais elevados de elementos tóxicos (ex: crómio, cadmio, chumbo e fluor) obtendo-se assim, uma matéria prima cada vez mais cara e de menor qualidade. Sendo o fósforo um nutriente essencial para todas as formas de vida, e que não pode ser substituído por nenhum outro elemento químico, torna-se evidente a necessidade urgente de tomar medidas para o seu uso sustentável. Neste capítulo são apresentados dados e são discutidas opções para o seu uso agrícola, que contribuirão, através da sua reutilização e reciclagem, para a proteção do fósforo como recurso natural.